
Talvez mais do que qualquer outra nação, a França tem uma respeitável tradição de intelectuais engajados — tradição que remonta ao caso Dreyfus, na virada do século XIX para o XX, quando o romancista Émile Zola, no histórico panfleto J’accuse (“Eu acuso”), saiu em defesa do oficial judeu falsamente acusado de traição à pátria. Nas décadas que se seguiram à II Guerra Mundial, diz o americano Mark Lilla, professor de humanidades da Universidade Columbia, “o manto do intelectual dreyfusard passou do escritor para o filósofo”, com Jean-Paul Sartre — que também foi romancista e dramaturgo, mas sempre filósofo antes de tudo — na linha de frente. Lilla observa um paradoxo: ao mesmo tempo em que se tornou imperativo para o filósofo assumir posições políticas, o campo específico da filosofia política esteve em baixa. Com a exceção de Raymond Aron, não havia filósofos que se dedicassem a pensar sistematicamente a atividade política. “Se tudo é político, então rigorosamente nada é”, diz Lilla. É uma observação quase passageira em um ensaio cujo tema central é o desconstrucionismo do francês Jacques Derrida (e sua enviesada recepção nas universidades dos Estados Unidos) — mas representa bem a acurada capacidade de análise que Lilla esbanja ao longo de A Mente Imprudente, livro de 2001 recentemente lançado no Brasil pela Record. Seu objeto de estudo: grandes pensadores do século XX que se dedicaram à atividade política — e seus equívocos às vezes monstruosos.
São seis os intelectuais examinados por Lilla: o alemão Martin Heidegger, talvez o mais importante filósofo do século XX, que teve uma muito discutida passagem pelo Partido Nazista (no mesmo capítulo, também se examinam Hannah Arendt e Karl Jaspers em sua relação com Heidegger); Carl Schmitt, o “jurista de Hitler”, cuja ideia de uma política baseada na oposição beligerante entre amigo e inimigo teria aceitação entre extremistas de esquerda no pós-guerra; Walter Benjamin, o melancólico suicida que viveu dividido entre o misticismo judaico e o marxismo militante; Alexandre Kojève, o arrivista russo que fez fama em Paris como exegeta de Hegel e depois se tornou assessor do governo francês; Michel Foucault, o influente autor de Vigiar e Punir, cuja desconfiança paranoide em relação ao “poder médico” o levou a negligenciar a ameaça da aids; e Derrida, um pensador a princípio apolítico, mas que em obras tardias quis transformar sua filosofia de desconstrução da linguagem em um programa político que desse “esperança à desalentada esquerda”.

Neste livro surpreendentemente ambicioso para sua modesta extensão, não se encontrará material para “tretas” e “textões” políticos do Facebook. A análise é sempre elegante, ponderada, sóbria, o que só torna as críticas de Lilla a seu heterogêneo time de intelectuais ainda mais incisivas. Os capítulos dedicados a cada pensador funcionam como ensaios autônomos — o leitor pode escolher, conforme seus interesses, ler este e não aquele. Mas há uma ideia mestra orientando A Mente Imprudente, articulada no capítulo final, “A Sedução de Siracusa”, no qual o autor retrocede à Antiguidade para buscar o exemplo de Platão em seu malogrado esforço de se tornar conselheiro de Dionísio, jovem tirano de Siracusa com pretensões filosóficas. Lilla observa que, no século XX, não houve só um caminho conduzindo o intelectual para a “filotirania”: o imperativo do engajamento levou franceses como Sartre ao stalinismo, e o distanciamento da política e o isolamento universitário contraditoriamente conduziram alemães como Heidegger ao nacional-socialismo. As ideologias totalitárias apelam com eficiência para a vaidade e a ambição típicas do intelectual. É preciso, diz Lilla, vigiar o “tirano interior”.
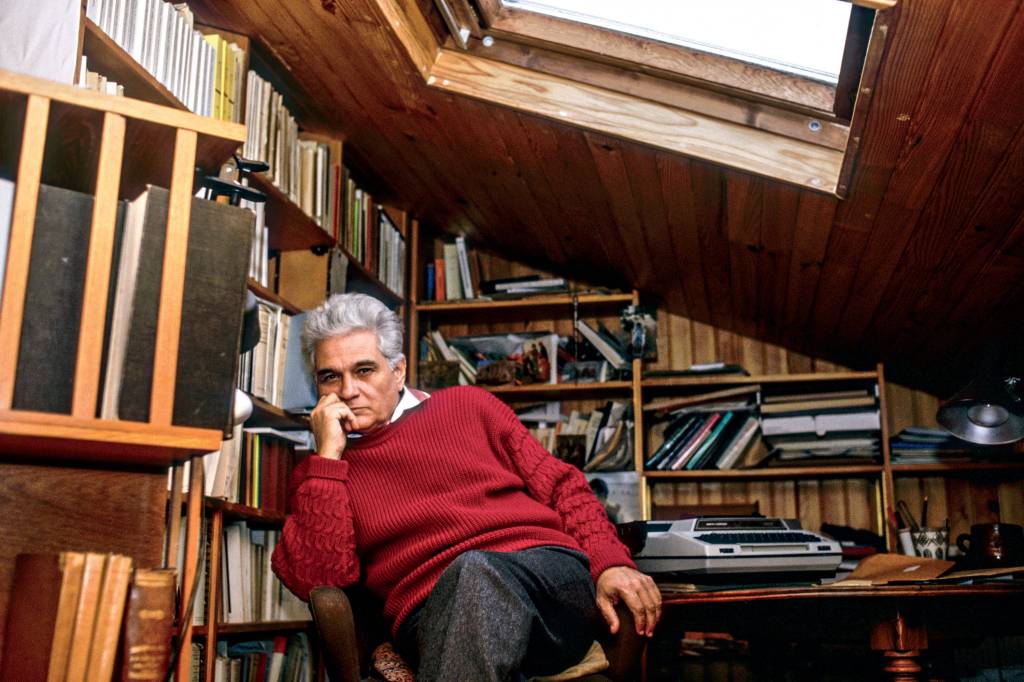
Em um posfácio de 2016, Lilla examina os desdobramentos (empobrecedores, na sua avaliação) do pensamento político desde a primeira edição de A Mente Imprudente, às vésperas do atentado às torres gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Muito de passagem, ele já alude a uma preocupação que o tem assolado desde a vitória eleitoral de Donald Trump: o modo como pautas identitárias cada vez mais atomizadas têm distanciado a esquerda americana (que a esquerda brasileira tantas vezes segue de perto) dos anseios coletivos mais amplos do povo americano, facilitando a ascensão do populismo de direita. É sobre isso o seu livro mais recente, The Once and Future Liberal (algo como O Progressista Passado e Futuro). Trata-se da crítica de um homem preocupado com o próprio campo: Lilla define-se como liberal de esquerda. Mas rótulos e classificações são o que menos interessa. Como disse o ensaísta português João Pereira Coutinho em um artigo sobre o pensador americano, a distinção fundamental não é entre direita e esquerda, mas “entre a inteligência e a falta dela”.
Publicado em VEJA de 3 de janeiro de 2018, edição nº 2563


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO











