O economista canadense Dominic Barton, diretor global da consultoria McKinsey, uma das mais respeitadas do mundo, mantém uma rotina diária de reuniões com ao menos dois presidentes de empresas ou autoridades internacionais. É assim que ele busca ficar atualizado a respeito das transformações rápidas e profundas em curso na sociedade. Desses encontros saiu sua percepção de que o mundo não está se adaptando na velocidade necessária. O setor público, por exemplo, não cumpre adequadamente seu papel de preparar as pessoas para as novas possibilidades tecnológicas. Essa é uma das razões para o aumento da desigualdade e o achatamento da classe média nos países ricos. Para ele, as empresas terão de assumir novas responsabilidades e ter um papel mais ativo. “Do contrário cairão em descrédito na sociedade”, afirma Barton. O executivo, de 55 anos, conversou com VEJA durante uma recente visita a São Paulo
O mundo passa por transformações radicais, com a popularização dos robôs e da inteligência artificial. Como os países e as empresas devem se preparar para enfrentar esses novos tempos? Os próximos vinte anos serão um dos períodos mais radicais da história, por causa de todas essas transformações. Ao mesmo tempo, o poder econômico vai se deslocando para a Ásia em uma velocidade superior à imaginada. Outra das grandes tendências da atualidade é o envelhecimento populacional. Todas essas mudanças ocorrem ao mesmo tempo e requerem uma nova mentalidade. A inovação é essencial, bem como a readaptação das pessoas. É preciso treinar os trabalhadores para as novas exigências da economia e da sociedade. Temo que não estejamos prontos para enfrentar esses desafios.
Por quê? Pessoas nos seus 40 ou 50 anos que hoje estão em cargos razoáveis no setor privado poderão ver seu emprego ser radicalmente transformado. Por isso a inovação é essencial. O setor público e os sistemas educacionais não têm sido velozes o bastante para acompanhar essas transformações.
O setor privado é mais veloz nessa adaptação? As empresas precisam reagir se quiserem sobreviver. Em 1935, o tempo médio de vida de uma empresa listada na bolsa de valores de Nova York era de noventa anos. Essa era a expectativa de vida de uma companhia. Atualmente, o tempo médio é de quinze anos. As empresas precisam inovar e inovar, e não assumir como líquido e certo que o negócio delas continuará rentável para sempre. Essa adaptação significa avaliar a todo momento como os produtos são feitos, que pessoas contratar, como chegar ao cliente. A resistência maior a mudanças não está no setor privado, mas no público. Por isso, acredito que as companhias terão de assumir um papel mais ativo na sociedade.
Como o senhor imagina que isso acontecerá? As empresas e seus executivos terão de assumir novas responsabilidades. Algumas já fazem isso. Cuidam da educação dos funcionários, da assistência médica, da aposentadoria. As companhias encarregam-se muitas vezes de projetos em suas cidades, de ações ambientais.
O senhor conhece casos concretos? Gosto de citar Randall Stephenson, o presidente da AT&T. A empresa de telecomunicações é a que mais investe em infraestrutura nos Estados Unidos. Stephenson percebeu que 120 000 de seus funcionários não estariam preparados para realizar o trabalho necessário daqui a cinco ou sete anos, por causa das novas tecnologias. Ele poderia simplesmente demitir esses funcionários e contratar novos, mas decidiu investir em um programa de treinamento. Outro exemplo é Paul Polman, da Unilever, que estabeleceu como objetivo reduzir à metade o impacto ambiental do grupo e, ao mesmo tempo, dobrar o volume de vendas. As empresas precisam agir, do contrário cairão em descrédito na sociedade. As pessoas estão perdendo a paciência. Não estão satisfeitas com o governo, com as grandes corporações, com ninguém.
É uma reação contra o capitalismo? Sim, mas não apenas contra o capitalismo. É contra todo o sistema político e econômico. Se deixarmos que isso continue e ganhe força, o desfecho dessa história não será nada bonito. É verdade que, no passado, houve crises e o sistema político e econômico conseguiu reagir e adaptar-se. Mas, agora, creio que a reação esteja levando tempo demais para ocorrer. Por isso, enfatizo a necessidade de recapacitar as pessoas. Basta observar o que tem acontecido com a classe média nos países mais ricos. Fizemos uma análise em 25 dos países mais ricos do mundo. Entre 1993 e 2005, apenas 2% das pessoas não haviam melhorado de vida. Entre 2005 e 2014, no entanto, 70% das pessoas não tiveram aumento real de renda ou mesmo sofreram uma queda em seus ganhos. Com a tecnologia, a demanda por trabalho caiu e os salários estão estagnados. Mas o 1% no topo dos rendimentos está muito bem. Se essa tendência persistir, haverá novos fenômenos como a eleição de Donald Trump e o Brexit (a decisão dos britânicos de deixar a União Europeia).
Segundo alguns pesquisadores, a concentração de renda ocorre em parte por causa da falta de competição. Os gigantes da tecnologia, por exemplo, são virtuais monopolistas em suas áreas. Qual é sua avaliação? Não creio que falte competição no mercado, mas existem mercados em que certamente a concentração foi muito grande. A Amazon está avançando sobre o negócio de todo mundo. O mesmo vale para o Google, para o Facebook. A Europa está procurando maneiras de combater essa concentração. Existe um paralelo com o início do século passado, quando havia os gigantes do petróleo e do aço, como a Standard Oil, a US Steel. Então veio o governo de Theodore Roosevelt, que decidiu regular as grandes corporações, e as autoridades chegaram a obrigar algumas delas a dividir-se.
O senhor acha que o Estado precisa intervir na economia nos mesmos moldes agora? Existe um papel a ser cumprido pelo setor público. Mas isso não quer dizer que o governo deva administrar empresas. Um bom ambiente regulatório é essencial: deve permitir que os jovens empreendedores possam abrir negócios e prosperar. Na maior parte do mundo, isso ainda é algo bastante complicado, favorecendo as companhias estabelecidas no mercado. Essas barreiras contribuem para o aumento da informalidade. Parece ser o caso do Brasil. Pessoalmente, acredito que o governo deva concentrar mais sua atenção no sentido de incentivar o acesso de novos competidores em vez de tentar dividir as grandes empresas. O Google não existirá para sempre, assim como a Microsoft não tem hoje o poder que teve no passado.
O senhor compartilha da opinião de economistas que são céticos quanto ao potencial de crescimento econômico mundial para os próximos anos? É verdade que em alguns países o crescimento tem sido anêmico, mas existem razões para otimismo. Nas próximas duas décadas, 2,4 bilhões de pessoas vão ingressar na classe média, principalmente na Ásia e também na África. Há um potencial enorme aí. A produção de alimentos terá de avançar muito. A educação é outra área promissora. As oportunidades existem. O baixo crescimento decorre de falhas na gestão pública. Não deveríamos aceitá-lo como algo inevitável.
Em 2016, ao lado de outros executivos e líderes globais, o senhor participou de uma conferência no Vaticano sobre como tornar o capitalismo mais justo. Quais são as principais críticas da Igreja? Os pontos principais da discussão ficaram em torno do aumento da desigualdade, do desemprego e de como treinar as pessoas para as novas necessidades do mercado. O papa Francisco não participou pessoalmente do encontro, mas esteve envolvido nos debates. Fizemos também algumas sugestões para a Igreja. Existe, por exemplo, uma reflexão ética a respeito da inteligência artificial, ainda que a Bíblia nada fale sobre o assunto. Um novo encontro ocorrerá em duas semanas, em Nova York.
O senhor dá aulas de administração de empresas em uma universidade chinesa. Como é a experiência de ensinar a fazer negócios em um país comunista? Em muitos aspectos, a China é um dos países mais capitalistas do mundo. Tem uma longa tradição de empreendedorismo. Quando veio a revolução comunista, houve uma diáspora para outros países asiáticos. Nas últimas décadas, os chineses criaram algumas das maiores e mais dinâmicas empresas da atualidade. São grupos como Tencent, Baidu, Alibaba.
O senhor acredita que a China vá se tornar uma democracia liberal, ao modo ocidental? O Partido Comunista tem pensado muito sobre qual será o impacto político da urbanização, do enriquecimento da população. São feitas periodicamente simulações de cenários para o caso de o sistema entrar em colapso. Para manter a estabilidade, os planos quinquenais são focados na geração de empregos. Recentemente, participei de um encontro com dirigentes chineses em que fomos convidados a analisar o novo plano quinquenal. Estiveram presentes os economistas Joseph Stiglitz e Michael Spence (ambos agraciados com o Nobel de Economia). Não vejo muitos governos fazendo isso pelo mundo. Haverá mudanças, mas graduais. Eles devem estar olhando para o que ocorre atualmente nas democracias ocidentais e questionando-se: será que é isso que queremos?
O Brasil acaba de viver a pior recessão de sua história. Antes mesmo da crise, o país crescia relativamente pouco. Qual a sua avaliação da economia brasileira? Sou otimista com relação ao Brasil. A demanda mundial por alimentos é absolutamente avassaladora. A água será uma riqueza a cada dia mais valorizada. Os recursos brasileiros nessas áreas são expressivos. Mas, para o país tirar proveito de seus potenciais, terá de enfrentar algumas questões. A primeira delas é a produtividade dos trabalhadores. O Brasil tem ficado para trás na comparação com outros países. O sistema regulatório e tributário precisa melhorar. Converso com administradores de recursos e empresários de todo o mundo, e eles sempre dizem que a economia brasileira não é das mais amigáveis aos investidores. Outro aspecto é a educação. O esforço de combate à corrupção tem sido notável. É uma oportunidade de recomeçar do zero. As oportunidades são enormes, mas as reformas precisam prosseguir.
Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2017, edição nº 2548



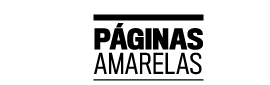



 Quem são as principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar
Quem são as principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar Sem dinheiro: o risco de apagão no Banco Central
Sem dinheiro: o risco de apagão no Banco Central ‘Operação Lioness’: brasileira reforça onda da espionagem feminina na tela
‘Operação Lioness’: brasileira reforça onda da espionagem feminina na tela








