Foi na condição de médico que Anton Tchékhov (1860-1904), um dos maiores contistas da literatura russa, viajou, em 1890, à ilha longínqua de Sacalina. Mais tarde consagrado como o dramaturgo de peças como A Gaivota e O Jardim das Cerejeiras, suas incumbências nesse ponto extremo do Império Russo eram fazer um recenseamento da população local e avaliar suas condições higiênico-sanitárias. Localizada no Pacífico, ao norte do Japão (cujas pretensões expansionistas preocupavam a Rússia) e a mais de 9 000 quilômetros de Moscou — um intervalo de sete fusos horários —, Sacalina abrigava então uma colônia agrícola e penal de deportados pelo regime czarista. “O preso entrava como forçado, passava à condição de colono, recebendo a propriedade de uma parcela de terra, e, por fim, adquiria o estatuto de camponês, que lhe dava a possibilidade de ir para a Sibéria, se desejasse. Lá, podia integrar-se a uma comunidade camponesa ou trabalhar nas cidades, mas sempre como deportado, pois a deportação era perpétua”, explica o tradutor Rubens Figueiredo na apresentação de A Ilha de Sacalina, título de Tchékhov publicado no Brasil pela Todavia. Trata-se de uma obra híbrida, que mescla ponderações e avaliações médico-científicas a relatos de viagem escritos por um Tchékhov nômade e etnógrafo. Eis, por exemplo, sua observação sobre o comportamento amoroso dos nativos da ilha: “A atitude cavalheiresca com as mulheres chega quase às alturas de um culto e, ao mesmo tempo, não se considera condenável ceder a própria esposa a um amigo em troca de dinheiro”.
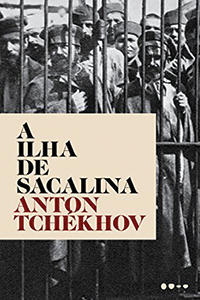
As considerações do autor sobre o sistema prisional e sobre a situação dos detentos aproximam esse livro de Recordações da Casa dos Mortos, de Fiódor Dostoiévski (1821-1881), obra em que o autor de Crime e Castigo narra e analisa suas experiências como prisioneiro político condenado a trabalhos forçados em um presídio siberiano. Na esteira das preocupações político-sociais da intelligentsia russa do século XIX, engajada em projetos de ampla transformação do país, A Ilha de Sacalina contribuiu sobremaneira para que o regime czarista fosse forçado a reformar as condições degradantes a que os detentos eram submetidos. Mas só em 1906, dois anos depois da morte de Tchékhov, a colônia penal de Sacalina seria afinal fechada.
No início da obra, o narrador conta de sua chegada, a bordo de um vapor, “à cidade de Nikoláievski, um dos pontos mais orientais de nossa pátria”. Nas páginas seguintes, seu olhar alterna objetividade, crítica social e lirismo: “o rio Amur é muito largo, o mar fica só a 27 verstas; o local é majestoso e bonito, mas as lembranças do passado dessa região, os relatos dos companheiros sobre o inverno atroz e sobre os não menos atrozes costumes locais, a proximidade dos trabalhos forçados e o próprio aspecto da cidade desolada, deserta, tiram completamente a vontade de admirar a paisagem. (…) [É como se] as janelas escuras e sem esquadrias olhassem para nós como as órbitas vazias de uma caveira”.
Em Humano, Demasiado Humano (1878), o filósofo (e andarilho) alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) discorre sobre o sentimento de desbravamento e alteridade que se apodera do viajante no momento mesmo em que o radicalmente novo passa a lhe excitar os sentidos, em que as diferenças culturais tensionam as ideias que ele até então nutrira sobre si mesmo. É assim que, nos confins orientais da Rússia, Tchékhov descobre uma identidade nacional e uma cultura para muito além da missão civilizatória (e coercitiva) imposta pelo regime czarista: “Desde o balik de salmão (filé de peixe defumado), que aqui é servido com vodca, até as conversas à mesa, em tudo se sente algo de específico, de não russo. O tempo todo me parecia que nosso modo de vida russo é completamente estranho aos habitantes do Amur, que Púchkin e Gógol são incompreensíveis ali. Nós, oriundos da Rússia, parecemos estrangeiros”.
Publicado em VEJA de 7 de novembro de 2018, edição nº 2607














