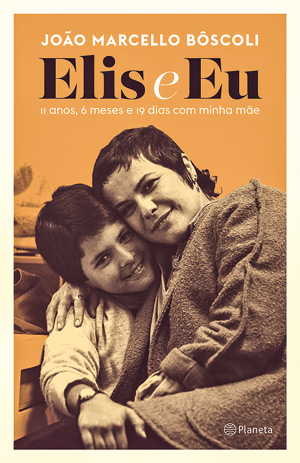
Fui acordado no meio da noite por uma movimentação atípica do lado de fora do meu quarto. Meio sonhando, meio acordado, caminhei até a porta. Abri, mas não pus a cabeça pra fora; colei com cuidado a orelha na fresta. Da suíte principal vinham diálogos quase inaudíveis, sussurrados, entrecortados por pausas e ruídos respiratórios. Estava esclarecida a situação naquele maldito dia de festa — aliás, nunca gostei de festa. Reconheci a voz de minha mãe e algumas outras.
Apesar dos meus 11 anos, não houve esforço para deduzir as ações no banheiro. Inalações rápidas deixavam tudo claro. E a cultura popular da época também já tinha introduzido o assunto, tanto nos filmes vistos escondido como nas letras de músicas. A novidade foi perceber pela primeira vez sua chegada à nossa casa — e com a participação dela. (…) Por alguns longos segundos, pensei em sair do quarto e constranger a todos. Três metros nos separavam. Se eu tivesse ido até lá, o destino teria sido outro? Talvez eu tivesse tomado uma bronca… Como saber? Como?
Era tudo demais para mim. Tomar coragem e confrontar aquela supermulher exausta, olhar nos olhos dos parasitas ao seu redor, vê-la afundar em algo até então completamente ausente em nossa vida, testemunhar uma fraqueza sua. Ou fazê-la sofrer ao me ver confuso, surpreso e chocado.
Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2019, edição nº 2657






 Inauguração badalada reúne empresários, políticos rivais e famosos no Rio
Inauguração badalada reúne empresários, políticos rivais e famosos no Rio








