
Quando a sociedade francesa é confrontada com algo absurdo, revoltante, injusto, contraditório ou simplesmente curioso, em alguns círculos sociais do país há uma máxima que nunca sai da moda — e sempre pega bem: “O que Camus pensaria sobre isso?”. Essa maneira cotidiana de recorrer ao filósofo e escritor Albert Camus (1913-1960) é um bom termômetro para mensurar a atualidade de sua obra. O romance O Estrangeiro (1942), que já foi citado em músicas de The Cure e Caetano Veloso, reapareceu mais recentemente na faixa As Caravanas, de Chico Buarque. A história do francês que mata um árabe e põe a culpa no sol rendeu ainda um prêmio Goncourt ao escritor argelino Kamel Daoud, com O Caso Meursault (2015), que reconta o assassinato do ponto de vista da vítima. As peças teatrais de Camus ganham novas montagens anualmente. E, valendo-se de coincidências quase premonitórias, seu livro A Peste (1947) voltou à lista de best-sellers em vários países durante a pandemia do novo coronavírus.
Mais que um filósofo existencialista identificado com o “absurdo da condição humana”, expressão que se tornou o epítome de sua obra, o franco-argelino Camus foi um pensador extremamente instigante. Sua originalidade é atestada no ensaio Reflexões sobre a Guilhotina, que acaba de ganhar sua primeira edição no Brasil. Publicado originalmente em 1957, o texto levanta argumentos morais, filosóficos e estatísticos para defender o fim da pena de morte. Ela vigorou na França até 1981 e a brutal guilhotina, celebrizada na Revolução de 1789, foi usada pela última vez há menos de cinquenta anos, em 1977, na execução do assassino confesso Hamida Djandoubi, em Marselha.
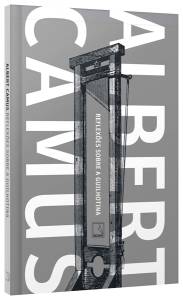
Em seu livro O Homem Revoltado (1951), Camus já criticava a legitimação da violência como um fim em si mesmo, ação justificada como “necessária” em diferentes processos históricos. O autor planejava incluir naquele livro um capítulo sobre a pena de morte, mas não o fez. Reflexões sobre a Guilhotina supre essa lacuna, mas vai além ao analisar os vínculos entre o indivíduo e o Estado. “Há trinta anos, os crimes de Estado se sobrepõem em muito aos crimes dos indivíduos (…). Não é mais tanto do indivíduo que nossa sociedade deve, portanto, defender-se, mas, sim, do Estado”, escreve Camus em uma passagem de lucidez notável.
Para o filósofo, a execução repete o crime que se pretende punir, impõe uma sentença irreversível e sujeita a erros humanos, e resguarda-se como medida de exemplaridade duvidosa, pois as estatísticas demonstram que não há relação entre o fim da pena de morte e um eventual aumento da criminalidade. Camus afirma que a pena capital nada mais é que uma vingança pura e simples, um resquício instintivo e primitivo em sociedades civilizadas. Para ele, a lei de talião — aquela que prega o olho por olho, dente por dente — “é da ordem da natureza e do instinto, não é da ordem da lei. A lei, por definição, não pode obedecer às mesmas regras que a natureza. Se o assassinato está na natureza do ser humano, a lei não é feita para imitar ou reproduzir esta natureza. Ela é feita para corrigi-la”.
Do ponto de vista lógico e estritamente racional, sem apelar para sentimentalismos ou ideologias, é difícil discordar do autor. A força de sua argumentação reside tanto na clareza de suas ideias e propósitos como nos fatos elencados no ensaio. A mistura de robustez intelectual com objetividade perpassa as obras e opiniões de Camus — daí vem grande parte de sua constante (talvez crescente) atualidade. Outro atributo — muito raro no mundo de pós-verdades, cancelamentos e mea-culpa midiáticos — é a coerência.
Ao longo de sua vida, Camus adicionou camadas metafísicas aos seus romances e peças, entremeando-os com suas ideias filosóficas; atuou na imprensa de resistência francesa ante a ocupação nazista; ao contrário de existencialistas como Jean-Paul Sartre, que defendeu o regime de Stalin até onde pôde, Camus rompeu com os comunistas para manter-se fiel ao seu antitotalitarismo à esquerda e à direita; e causou espanto à intelligentsia ao posicionar-se contra a independência da Argélia, então colônia francesa. Em seus erros e muitos acertos, Camus não foi só um pensador fiel às convicções: ele era — e ainda é — uma voz da consciência humanista.
Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779
*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.



















