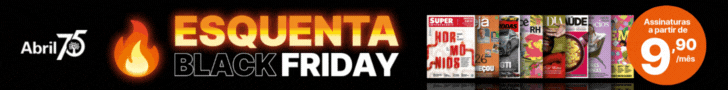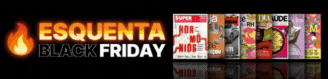Conteúdo digital de baixa qualidade pode causar estragos ao cérebro, mostram novas pesquisas
Estudos revelam os impactos da oferta de material feito apenas para manter o usuário grudado às telas

A escolha da palavra do ano pelos filólogos do dicionário britânico Oxford é um clássico. É brincadeira semântica que nos ajuda a compreender o mundo. Em dezembro do ano passado, o termo anunciado foi brain rot, que pode ser traduzido como “podridão cerebral”. Assim, na primeira acepção: “suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como resultado do consumo excessivo de material (particularmente conteúdo on-line) considerado trivial ou pouco desafiador”.
Na mosca, e os primeiros meses de 2025 são a prova de estarmos bebendo doses imensas de veneno digital. Soa um tantinho constrangedor, dado o tamanho do besteirol, mas há uma onda de vídeos, imagens e memes que vão do nada ao lugar nenhum e viraram mania. Um trio deles nasceu de contas italianas e depois viralizou. Começou com um tubarão calçado com um tênis de marca famosa, que recita uma frase blasfema: “Tralalero tralala, porco Dio e porco Allah”. A toada mistura uma rima sonora sem sentido algum com um xingamento religioso direcionado simultaneamente a cristãos e a muçulmanos — em evidente ofensa religiosa, independente do credo.
Depois veio o Bombardiro Crocodilo, um avião bombardeiro militar com o bico em formato de… crocodilo. E então a Ballerina Cappuccina, uma bailarina com a cabeça de xícara de cappuccino, cujo vídeo original acumulou mais de 45 milhões de visualizações no TikTok e 3,8 milhões de curtidas. O pacote todo, das três patacoadas, passa de 1 bilhão de likes. Chega a ser ridículo. O bom aspecto é que os criadores das gracinhas em momento algum imaginaram estar entregando algo edificante. Sabem representar um zero à esquerda, nada mesmo, e não por acaso carimbaram as tolices com a hashtag #italianbrainrot.
Rimos do exagero, parece não haver mais jeito, é a vida como ela é, e tampouco parece ser algo tão daninho quanto as fake news ideológicas, que o STF acaba de pôr na conta das chamadas big techs — e que elas se responsabilizem pelas mentiras, porque têm, sim, culpa no cartório. Nada contra o riso, nem contra as redes sociais, que podem oferecer conteúdo de qualidade. Elas são parte indissociável da existência contemporânea e exercem funções legítimas: conectam pessoas, entretêm, ampliam vozes. O problema é o exagero. Abaixo o moralismo digital e viva a sensatez.

Há, contudo, uma gritante novidade, para além do incansável fenômeno de todo dia, todo minuto: pesquisas recentes mostram que as bestices começam a provocar problemas mentais reais em quem não tira o olho da tela. Um estudo publicado no periódico JAMA — The Journal of the American Medical Association identificou tendências de suicídio entre jovens de 9 e 14 anos de idade que declararam vício eletrônico e imensa dificuldade de abandonar os aparelhos portáteis. Os adolescentes, em especial, mostraram ter de duas a três vezes mais probabilidades de alimentar pensamentos suicidas ou de se automutilar, na comparação com os que, comprovadamente, conseguem estar off-line. Foram ouvidos 4 000 indivíduos nos Estados Unidos. “Esse é o primeiro trabalho a identificar o uso viciante como raiz dos problemas, e não exatamente o tempo de tela”, disse Yunyu Xiao, principal autora da investigação, professora-assistente de psiquiatria e ciências de saúde da população do americano Weill Cornell Medical College.
Todo tipo de adição pode ser mais difícil de controlar durante a infância, antes do total desenvolvimento do córtex pré-frontal, que age como freio para a impulsividade. E mais: os vídeos curtos, sem profundidade, podem levar a uma espécie de “atrofia neuroplástica”, na qual o cérebro se acostuma a estímulos fáceis e perde a habilidade de lidar com tarefas mais complexas. “Com a exposição constante a esse tipo de conteúdo, o cérebro para de acessar áreas que exigem mais esforço cognitivo”, diz Cristiano Nabuco, psicólogo especialista em dependências tecnológicas. “A ideia entra, mas não reverbera. Não se fixa, não se conecta a coisa alguma.”

Antes que apontemos os dedos apenas para os mais jovens — e durma-se com um barulho desse, agora que estão em férias escolares —, convém também iluminar os estragos promovidos pelo uso abusivo dos recursos da internet, especialmente os de inteligência artificial (IA), entre gente mais crescida — nem sempre há a sujeirada nonsense, com tubarões, crocodilos e bailarinas, mas abre-se o poço sem fundo em que vale tudo. Tem feito muito barulho, nas duas últimas semanas — e virou meme, é claro — um levantamento do Media Lab do MIT segundo o qual o ChatGPT prejudica o pensamento crítico. O trabalho dividiu 54 participantes de 18 a 39 anos, da região de Boston, nos Estados Unidos, em três grupos. A eles foi pedido que escrevessem redações usando o robô de IA, o mecanismo de busca do Google e, por fim, nada, apenas a cabeça humana. Verificou-se que a atividade cerebral da turma do ChatGPT foi a mais tímida e preguiçosa, pendurada no copia e cola. É levantamento que ecoa uma outra robusta investigação, feita pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Trondheim, na Noruega. O objetivo era comparar a atividade elétrica cerebral de estudantes universitários durante exercícios de caligrafia e digitação. Os que escreveram à mão tiveram índices mais altos de ativação neural.
Há muito espaço ainda para pesquisa, de modo a estabelecer ilação direta, efeito de causa e consequência entre o vício eletrônico e as transformações cerebrais — é leviano supor, sem as devidas constatações e testes, que a nova geração já tenha sido atingida e ponto, como se a revolução do silício tivesse alterado o andor da humanidade de modo definitivo. Não, ainda. Brotam, contudo, aspectos comportamentais que não devem ser negligenciados. De acordo com os especialistas, o consumo contínuo de breves filmetes deteriora a memória de longo prazo. “O cérebro começa a priorizar apenas o agora, o estímulo imediato, e deixa de organizar ideias mais complexas”, diz Nabuco. É como se o pensamento passasse a funcionar em janelas cada vez menores, incapaz de sustentar uma linha de raciocínio durante mais de alguns segundos. Em vez de consolidar informações, a massa cinzenta se habitua a descartá-las tão rapidamente quanto as recebe — em fluxo incessante de estímulos fragmentados que chegam, impactam e se dissolvem.

A consequência é a infantilização do pensamento. É como se estivéssemos regredindo em capacidade de análise e abstração. Em termos práticos, trata-se da dificuldade de lidar com textos mais longos, vídeos informativos, discussões complexas e até mesmo de sustentar conversas que exijam raciocínio encadeado. O conteúdo precisa ser mastigado, imediato, carregado de emoção ou humor — qualquer nuance que peça pausa ou interpretação mais elaborada corre o risco de ser ignorada.
É triste saber, porém, que o ponto a que chegamos foi burilado pelos donos da engrenagem, de naturais e evidentes interesses econômicos. Há processos nos Estados Unidos e na Europa contra as grandes empresas, acusadas de produzir dependência de modo proposital. Em 2021, uma ex-funcionária da Meta, Frances Haugen, denunciou a companhia de Mark Zuckerberg por trabalhar com ferramentas projetadas para criar vício e aumentar o consumo. No fim de 2023, procuradores de 42 estados americanos moveram ações contra a própria Meta, o TikTok, o Google e o Snapchat por supostamente induzirem crianças e adolescentes a grudar nos reels. As denúncias: os algoritmos das plataformas teriam sido projetados deliberadamente para explorar vulnerabilidades cerebrais e gerar dependência.

O que fazer? O debate, aos poucos, ganha força institucional. No Brasil, um projeto de lei em tramitação no Congresso, paralelamente à determinação recente do STF, propõe a responsabilização das plataformas digitais por danos causados a menores de idade. A proposta inclui regras para a transparência dos algoritmos, a proibição de publicidade dirigida a jovens e a criação de mecanismos de denúncia mais acessíveis. Em outros países, medidas mais robustas já estão em andamento. A Holanda, por exemplo, passou a recomendar oficialmente que crianças com menos de 15 anos não usem TikTok nem Instagram, reconhecendo os efeitos nocivos das plataformas. Na Austrália, o banimento total de celulares em escolas públicas tornou-se política nacional — e, de acordo com o Ministério da Educação, já apresenta resultados positivos em indicadores de rendimento escolar, concentração em sala de aula e bem-estar psicológico dos alunos.
Por aqui, medida semelhante foi adotada no início de 2025, com a sanção de uma lei que restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o país. A legislação determina que os aparelhos sejam mantidos desligados durante aulas, recreios e intervalos, salvo em situações pedagógicas autorizadas ou por motivos de acessibilidade, saúde e segurança. A expectativa é que a restrição contribua para um ambiente escolar mais saudável, com menos distrações e maior zelo na aprendizagem. “Não podemos mais tratar o brain rot, chamemos assim, como questão de escolha pessoal”, diz Nabuco. “É um problema de saúde pública. E, como todo problema de saúde pública, precisa de regulamentação.” E se houver cansaço diante de tanta preocupação, porque está difícil, ninguém vai morrer se der uma breve olhada no “tralalero tralala” do tubarão bocó — mas que seja rapidinho, porque há vida aqui fora.
Publicado em VEJA de 4 de julho de 2025, edição nº 2951


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO