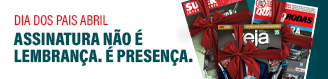As lições para o Brasil da alta de casos de Covid-19 na Europa
Novos números apontam para a importância da vacinação e da cautela na flexibilização do distanciamento e uso de máscaras

Passada a legítima euforia com a queda de casos de Covid-19 registrada nos últimos meses, a Europa voltou a ser o epicentro da doença, com números cada vez mais altos e a perspectiva de um fim de ano com medidas rígidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. O lockdown foi adotado na Áustria, onde a vacinação se tornará obrigatória a partir de fevereiro. A Holanda vive colapso no sistema de saúde e transferiu pacientes para a Alemanha. No país de Angela Merkel, de saída do governo, as autoridades sobem o tom contra os não vacinados. Na Itália, cidadãos não imunizados estão impedidos de entrar em bares, boates e restaurantes, ir a shows, a eventos de esporte e a cerimônias públicas. Na chamada quarta onda do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pede urgência, ao prever que o território europeu chegue a 2,2 milhões de mortes até março do próximo ano — seria um aumento de outros 700 000 óbitos em quatro meses. É um momento que exige cautela, sem alarmismo.

Algumas das primeiras cenas dramáticas da crise sanitária foram vistas na Europa no início de 2020. Entre aberturas e reaberturas do cotidiano, em vaivém de curvas, foi só a partir de dezembro daquele ano, com o início da distribuição de vacinas (e doze meses depois da eclosão do vírus na China), que começou a haver alívio, mas de modo desigual. Brotaram, então, duas Europas. O bloco das nações desenvolvidas, como Reino Unido, Alemanha e França, apresenta hoje taxas de cobertura vacinal completa que variam de 60% a 69% (acompanhe nos quadros ao longo desta reportagem). Há uma turma, sobretudo do Leste Europeu, como Rússia, Polônia e Belarus, com índices vacinais sofríveis — na Belarus, por exemplo, o patinho feio do grupo, a taxa não passa de 25% de proteção total.

Mas por que, apesar das diferenças no volume de doses aplicadas, o vírus reapareceu com força equivalente, sem respeitar fronteiras, tanto nos bons quanto nos maus alunos da classe europeia? O cenário surpreendeu especialistas. Era de se esperar que com as vacinas o número de casos da doença caísse. É verdade — e convém sempre louvar a fundamental relevância das agulhadas que salvam vidas —, mas alguns pontos devem ser lembrados. A vacina não impede a contaminação pelo vírus. O que ela faz é evitar que, uma vez infectado, o paciente evolua para quadros graves e morte. No território europeu, a variante predominante é a delta, mais transmissível do que as demais. Abriu-se aí uma fresta de vulnerabilidade, que poderia ter sido contornada com a manutenção das medidas sanitárias protetivas. No entanto, não foi o que aconteceu. No Reino Unido, a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público caiu no dia 19 de julho, quando a imunização alcançava pouco mais de 50% da população. “Na Europa, assim que as taxas de vacinação aumentaram, houve uma liberação geral das atividades”, diz a infectologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin de Vacinas, dos Estados Unidos. “Foram mais de dois meses sem restrições.”
Além disso, boa parte dos habitantes havia sido vacinada no primeiro semestre. A imunidade dos primeiros a serem atendidos perdia força, tornando muita gente mais vulnerável — daí a necessidade do reforço com a terceira dose. Parecia ter-se chegado ao limite possível de cobertura. Temia-se que fosse difícil alcançar índices de proteção acima de 90%, considerado ideal, e infelizmente é o que ocorre, por causa da forte atuação dos grupos antivacinas. Felizmente, ainda que longe do patamar desejado, a cobertura é suficiente para impedir a subida de hospitalizações. Há casos em profusão, mas sem gravidade. Nas duas últimas semanas, o Reino Unido, que tem 67% da população completamente vacinada, registrou aumento de novos casos por milhão de habitantes de 579 para 627. Por outro lado, houve queda de internações em UTI, que passaram de catorze por milhão para treze por milhão. As mortes também caíram de 2,40 por milhão para 2,06 por milhão. É situação razoavelmente controlada que não impede o empenho das autoridades de saúde para estabelecer um outro freio. O alerta do ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, foi duro. “Até o fim deste inverno, todas as pessoas na Alemanha estarão vacinadas, recuperadas ou mortas.” Há algum exagero, é evidente, mas o chamado de Spahn é compreensível quando se vê seu próprio país e o que desponta ao redor.

Nas nações com baixo índice vacinal, a situação é mais dramática. Governos autoritários, avessos à ciência, emolduram o descontrole. Muitos países não só suspenderam as restrições cedo demais — a Polônia iniciou o relaxamento das medidas em maio, quando apenas 18,57% dos habitantes tinham esquema vacinal completo — como patinam para superar a resistência à vacina. Nesses locais, há explosão de casos e de mortes por causa do alto número de pessoas sem nenhuma proteção. Voltemos à Polônia: com somente 54% de totalmente imunizados, o país passou de 206 novos infectados por milhão de habitantes para 555. As mortes cresceram de 1,79 para 7,81 por milhão.

Olhar para a Europa e tentar imaginar o que pode vir a ocorrer no Brasil, sem o recurso tolo da bola de cristal, é sempre útil. O país tem mais de 60% da população adulta completamente vacinada, taxa maior do que a média mundial, apesar do negacionismo de Jair Bolsonaro (ele, aliás, ainda não se vacinou). É dado consistente e animador. Some-se a essa condição o ritmo razoavelmente lento de retomada, e apenas agora as máscaras, que o governo federal também desdenhava no início, começam a ser dispensadas em locais abertos. “Se houver um eventual aumento de casos, os que flexibilizaram as medidas de contenção em épocas inoportunas serão mais prejudicados”, diz o infectologista Julio Croda, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Para que nossa saída desta longa agonia seja perfeita, cabe não repetir os erros europeus.
Publicado em VEJA de 1 de dezembro de 2021, edição nº 2766



 Plano de contingência contra tarifaço de Trump deve ser apresentado a Lula nesta semana
Plano de contingência contra tarifaço de Trump deve ser apresentado a Lula nesta semana A luta do irmão de Lula contra as fake news nas redes
A luta do irmão de Lula contra as fake news nas redes Criança vê sangue, polícia é chamada e acha casal morto em apartamento
Criança vê sangue, polícia é chamada e acha casal morto em apartamento Brasil, Chile, Espanha, Uruguai e Colômbia fazem manifesto pela democracia
Brasil, Chile, Espanha, Uruguai e Colômbia fazem manifesto pela democracia Por que o câncer colorretal, que vitimou Preta Gil, cresce entre jovens?
Por que o câncer colorretal, que vitimou Preta Gil, cresce entre jovens?