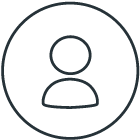Vida em reconstrução: a ciência avança no implante de órgãos artificiais
Técnicas em laboratório ou próteses produzidas em impressoras 3D mostram que é possível repor com segurança as peças que o organismo perdeu

Recriar o corpo faz parte do imaginário humano. Do coração recebido pelo Homem de Lata, em O Mágico de Oz, à mão decepada de Luke Skywalker, da saga Star Wars, substituída por um modelo biônico, há vários exemplos na ficção que refletem o anseio da civilização de repor, ao menos parcialmente, partes perdidas. O capítulo mais recente dessa aventura foi protagonizado pelo americano David Bennett, de 57 anos, e seus cirurgiões no Centro Médico da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Portador de cardiopatia grave e terminal, Bennett aceitou receber um coração de porco, geneticamente modificado, tornando-se o primeiro ser humano vivo a ser submetido a um xenotransplante (transplante, infusão ou implantação de órgãos de diferentes espécies).
No ano passado, um time da Universidade de Nova York havia feito o transplante de um rim suíno com material genético alterado em um paciente com funções mantidas por aparelhos enquanto se desenrolou a cirurgia. Bennett, o homem com um coração de porco, viveu mais dois meses depois do procedimento. Ele morreu na terça-feira 8, mas deixou à ciência a certeza de que está mais próximo o dia em que os humanos viverão por muito tempo com órgãos extraídos de outros animais. “Isso não é mais um sonho de um futuro distante, mas algo cada vez mais viável pela medicina moderna”, comemorou David Kaczorowski, professor associado de cirurgia cardiotorácica da Universidade de Pittsburgh, integrante da equipe que conduziu o experimento.

O feito dos médicos americanos abre mais uma avenida rumo à construção da vida por meios artificiais. O desafio é urgente. A escassez de órgãos para doação, agravada pela pandemia de Covid-19, e a longevidade da população, que amplifica as doenças ligadas ao envelhecimento, apertam a demanda por soluções que reparem pedaços do organismo, sejam eles vitais ou não. Felizmente, há novidades espetaculares, como resultado do progresso fantástico nos campos tecnológico e científico, especialmente na genética. Para que o xenotransplante em David Bennett se concretizasse, por exemplo, foi preciso avançar no conhecimento do DNA de homens e de animais de forma que os procedimentos sejam eficazes e seguros. Ou seja: devem salvar ou prolongar vidas ao mesmo tempo que apresentem riscos reduzidos de provocar episódios de rejeição aguda.
Na Universidade de São Paulo (USP), há um experimento exemplar nesse caminho. Coordenado pela professora Mayana Zatz, diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da instituição e referência nacional no tema, o projeto pretende criar rins de porco geneticamente viáveis para implantação em humanos. A fase mais difícil, de edição de genes, foi finalizada. Agora, o grupo aguarda a implantação de um biotério de máxima segurança, um ambiente dotado de filtros de ar, estéril e com água e alimentos livres de qualquer tipo de patógenos. A previsão é de que ele fique pronto até o fim do próximo ano. O passo seguinte será a criação das fêmeas que receberão embriões geneticamente modificados e gerarão os filhotes dos quais os órgãos serão tirados.

Uma das ideias, de modo a evitar a rejeição, é implantá-los sob a pele dos doentes. A proposta foi do professor emérito da Faculdade de Medicina da USP Silvano Raia, pioneiro dos transplantes de fígado no país, responsável, em 1988, pelo primeiro transplante intervivos no mundo. Aos 91 anos, o cirurgião está entusiasmado com o que a medicina alcançou até agora. “Em cinco anos, o xenotransplante será uma alternativa”, diz Raia. “O progresso previsto é geométrico. Posso prever milagres.” O olhar otimista é compartilhado com Anthony Atala, diretor do Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, instituição americana que, em 1999, inaugurou a era dos órgãos cultivados em laboratório fazendo o implante em um paciente de um tecido de bexiga. “Estamos progredindo demais em direção ao objetivo de melhorar a vida dos pacientes”, disse a VEJA. A instituição está na vanguarda da área. Há experiências voltadas para a criação de tecidos e órgãos para mais de quarenta partes diferentes do corpo. A impulsionar o trabalho frenético estão as bioimpressoras 3D, máquinas que sintetizam à perfeição o salto tecnológico dos últimos anos.
Elas revolucionaram o campo da regeneração de tecidos ao permitir a produção das peças mais precisas de que se tem notícia. No Wake Forest Institute, por exemplo, são utilizadas na fabricação de quinze estruturas, entre elas músculos, cartilagens e pele. São de dois tipos a matéria-prima usada. O primeiro é composto de células progenitoras do órgão a ser reparado. Elas são assim chamadas porque dão origem àquele tipo específico de tecido. “A vantagem de extrair células do próprio paciente é que não haverá rejeição”, explica Anthony Atala. Quando isso não é possível, recorre-se às células-tronco, capazes de se transformar em diversos tipos de estrutura e encontradas em compostos como a gordura corporal, placenta ou líquido amniótico.

Os avanços da área empolgam pelo que oferecem e fascinam pela criatividade. A pele de tilápia, em uso desde 2015 por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará no tratamento de queimaduras e feridas graves, agora serve também para a construção do canal vaginal de mulheres transgênero ou reconstrução no caso de pacientes que apresentam distúrbios genitais raros ou que ficaram com deformações causadas por câncer ginecológico. Além disso, em setembro do ano passado, o enxerto entrou como alternativa na recuperação da pele de crianças submetidas à cirurgia para separação dos dedos, malformação causada por uma síndrome rara.

Um observador menos atento poderia vislumbrar nesse novo campo da medicina um atalho para a transformação do corpo humano em quimeras ou ciborgues. Nada disso. Basta ver a mais recente versão do Aeson, o coração artificial mais sofisticado do mundo. Seu formato lembra bastante o do órgão ao qual ele imita as funções. O Aeson foi implantado no ano passado em um paciente com insuficiência cardíaca terminal por cirurgiões do hospital da Universidade Duke, nos Estados Unidos, dentro de um protocolo de estudo aprovado pela Food and Drug Administration, agência reguladora do país. O objetivo é verificar se a bioprótese mantém a vida de pacientes graves até que recebam um coração por meio de transplante. O estudo transcorre, assim como centenas de outros em condução neste momento, apontando para uma nova era. Nela, parte vital do organismo será reconstruída sem que os seres humanos percam a identidade corporal que a evolução talhou.
Publicado em VEJA de 23 de março de 2022, edição nº 2781


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO