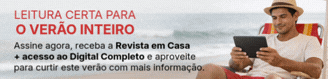O racismo no espelho
Pesquisa encomendada por VEJA ouviu 4 000 pessoas de todas as regiões e atestou o paradoxo: o Brasil tem preconceito, mas ninguém é preconceituoso


Lentamente, o sedã prata, top de linha de sua categoria, virou à esquerda na entrada do elegante edifício fincado em um ponto nobre da capital paulista e se dirigiu para o estacionamento. Com o carro ainda em movimento, o condutor — um homem de cútis parda com acentuada calvície e fios brancos rajando as costeletas curtas — viu o manobrista, de pele clara, ar de enfado, fazer-lhe um sinal para que abaixasse os vidros. “Vai esperar seu patrão aí dentro mesmo ou vai entrar na garagem?”, indagou o funcionário. “O que foi que o senhor disse?”, devolveu o cidadão ao volante, alarmado por décadas de discriminação racial. O outro entendeu na hora o erro que cometera. “Perguntei se vai esperar no carro ou deixar na garagem”, tentou remendar, eliminando o “seu patrão”. “Não foi só isso que o senhor falou”, retrucou o afrodescendente. Pegou, então, seus documentos e os do veículo — marca asiática, ano 2017 — e mostrou-os a seu interlocutor: “Está vendo? É meu. Só que o senhor acha que alguém da minha cor não pode ser o proprietário de um automóvel como este. No máximo, o motorista”. O empregado esmagou os lábios. “O que o senhor fez tem nome e é crime. Eu poderia denunciá-lo, mas não quero estragar ainda mais este dia de folga”, encerrou o dono do sedã, deixando ali a chave e encaminhando-se para o 3º andar do prédio, onde o aguardava uma consulta médica. Ao voltar para pegar o carro, foi tratado com a reverência desmesurada que costuma assaltar os amedrontados: “Já vou buscar o seu, doutor!”, cortejou-o o manobrista.
O episódio, recente, narrado na extensão amarga de seus detalhes, ilustra com incômoda perfeição alguns dos principais resultados de um estudo feito sob encomenda de VEJA pelo setor de inteligência de mercado da Editora Abril, que publica a revista, em parceria com a MindMiners, empresa especializada em pesquisas digitais. Mais do que isso, o relato dá corpo, alma e nervos à desconcertante crueza da realidade que os números do levantamento explicitam: o racismo, infelizmente, persiste no país. São manifestações veladas, diluídas, mascaradas — afinal, o proprietário do sedã não foi impedido de entrar no edifício devido à cor de sua pele, algo proibido por lei no Brasil —, porém incapazes de absolver a discriminação. Ninguém duvida que há muito se revelou frágil a ideia de que este seria um país livre de preconceitos raciais — e o estudo realizado a pedido de VEJA constatou que ele continua longe disso. No entanto, embora falar em persistência da discriminação contra negros e pardos no Brasil possa soar como um truísmo — na definição expressa pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no artigo escrito para a presente edição da revista (leia mais) —, não deixa de ser acachapante quando isso vem à tona a partir de um trabalho que leva em conta critérios científicos.

A pesquisa Abril/MindMiners, feita no mês passado, entrevistou 4 000 pessoas, valendo-se para tanto de um aplicativo da internet. Os perfis dos participantes foram selecionados de modo a representar de perto a distribuição populacional do país em relação a cor, sexo e regiões, tendo como base os últimos dados disponíveis da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015. Assim, 49% dos consultados são brancos, 10% negros e 41% pardos (os afrodescendentes constituem mais da metade da população); 52% pertencem ao sexo feminino e 48% ao masculino; 7% residem no Centro-Oeste, 8% no Norte, 14% no Sul, 28% no Nordeste e 43% no Sudeste. Definido esse universo, foram levantados os dados referentes a idade, classe social, escolaridade, religião e faixa de salário. No total, os entrevistados responderam a 25 perguntas relacionadas ao tema do racismo. Faça o teste e confira a íntegra da pesquisa aqui.
Parte dessas questões revisita, inescapavelmente, as que apareciam em um estudo realizado em 1995 pelo Datafolha, por encomenda do jornal Folha de S.Paulo, que se tornou referência recorrente na bibliografia sobre preconceito de cor no Brasil. Publicado no jornal em junho daquele ano, no caderno “Racismo cordial”, o trabalho deu origem ao livro homônimo, lançado ainda em 1995. “Muito do que queríamos investigar havia sido alvo de interesse desse levantamento (e de outro, datado de 2008). Concluímos que retomar aquelas questões nos permitiria fazer comparações dos graus de discriminação racial em dois momentos da história nacional”, explica Maurício Panfilo, gerente de pesquisa e inteligência de mercado da Editora Abril. “Por outro lado, havia todo um campo novo a explorar, que em 1995 nem sequer podia ser cogitado, como o papel das redes sociais na disseminação do racismo”, completa Fernanda Vicentini, consultora de pesquisa de mercado da Abril.

Ao se compararem os números de 1995 com os de agora, dois resultados saltam aos olhos. O primeiro: cresceu a percepção da existência de preconceito em razão da cor da pele no país. Se antes, com base no levantamento do Datafolha, era possível dizer que 89% da população admitia haver discriminação racial no Brasil, hoje, de acordo com o estudo da Abril/MindMiners, esse índice chega a 98% — quando se somam os que responderam que existe discriminação “sim, um pouco” (12%), “sim, mas não sei se muito ou pouco” (19%) e “sim, muito” (67%). Como era de esperar, os porcentuais mais elevados do grupo que acredita haver muito preconceito racial no país encontram-se entre os negros (76%) e pardos (67%) — exatamente os mais atingidos pela discriminação.
Segundo ponto: ainda que atualmente a quase unanimidade dos consultados ateste a existência de preconceito de cor no Brasil, num salto de 9 pontos em relação a 1995, de 89% para 98% — o que pode levar ao entendimento de que o próprio racismo aumentou, ou, minimamente, que se ampliou o conceito do que deva ser classificado como tal —, é baixíssimo o porcentual daqueles que acabam se revelando “muito preconceituosos”. Para chegar a essa conclusão, o trabalho da Abril/MindMiners se valeu de uma metodologia comumente empregada em estudos desse tipo, e usada pelo Datafolha em 1995. Inicialmente, foram atribuídos pesos às respostas dadas a um grupo específico de perguntas. A partir daí, definiram-se duas escalas de preconceito: uma, de maior rigor, que envolveu em seu cálculo onze questões da pesquisa, e outra que considerou somente cinco. Em ambas, o total de entrevistados que se revelaram “muito preconceituosos” foi de apenas 1%. Em 1995, esse número era de 4% nas duas escalas. Já o total de participantes que foram classificados como “não preconceituosos” alcançou agora as marcas de 54% e 88%, nas escalas de maior e menor abrangência, respectivamente. Vinte e dois anos atrás, os porcentuais eram de 13% e 58%.
Essa intrigante disparidade entre a admissão maciça da existência de preconceito (98%) e o reduzido porcentual daqueles que puderam ser classificados como “muito preconceituosos” (1%) ajuda a flagrar o mascaramento da discriminação racial no país — um país, paradoxalmente, com racismo mas sem praticantes do racismo. O preconceito, em um grau mais exacerbado do que em 1995, quando se radiografou o mesmo fenômeno, parece ser sempre “dos outros” — 46% mostraram que o tinham em algum nível na atualidade, considerando a escala abrangente (antes, segundo o Datafolha, esse porcentual era de 87%). Para Maurício Panfilo, “claro que pode haver sinceridade nas respostas antirracistas que nos levaram a detectar apenas 1% de pessoas ‘muito preconceituosas’, só que não é possível descartar a hipótese de que elas tenham sido influenciadas pelo aumento do repúdio atual — com a força da internet e o peso do politicamente correto — às diversas formas de discriminação, que leva a maior autovigilância no discurso de quem toca no assunto hoje em dia”.
Quando perguntados se já haviam sofrido preconceito devido à cor de sua pele, 72% dos negros disseram que sim; entre os pardos, o número ficou em 32%. “São porcentuais muito elevados, que demonstram um certo gap: os brasileiros declaram que ‘praticam’ menos racismo, entretanto negros e pardos ainda sentem o preconceito de maneira muito acentuada”, observa Lilia Moritz Schwarcz, professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e professora visitante da Universidade Princeton, nos Estados Unidos. “Comentários maldosos” (31%), “ambiente escolar” (24%), “comércio” (19%), “transportes” (12%) e “prédios privados” (11%) — lembre-se do caso narrado no início deste texto — foram alguns dos locais e/ou situações em que a discriminação ocorreu com maior frequência. Contudo, a imensa maioria (92% dos negros e 93% dos pardos) não denunciou às autoridades competentes a atitude preconceituosa que lhe foi dirigida. “O número de negros que apontaram o ambiente escolar como o local onde mais sofreram discriminação revela uma grande falha na formação dos professores. Pouquíssimos têm a capacidade de usar o ato de racismo em sala de aula para debater o tema com toda a classe”, diz frei David Santos, fundador da ONG Educafro. “Também choca e angustia ver que quase 100% das vítimas de preconceito não foram à delegacia reclamar seus direitos”, ressalta ele. “Ouvir comentários maldosos ou piadas na escola é sinal de que a expressão do preconceito racial pode estar ligada a ambientes de convivência e proximidade”, analisa o antropólogo Roberto DaMatta. “Já sofrer preconceito e não denunciar é uma demonstração do péssimo relacionamento entre Estado e sociedade. Denúncias, na verdade, são raras, independentemente da cor da pele”, afirma DaMatta. É possível que a decisão de não levar o assunto adiante, procurando a Justiça, se deva ao seguinte: para 43% dos entrevistados — 47% dos quais afrodescendentes, com predomínio dos negros (49%) —, as leis brasileiras não são suficientemente rígidas na punição dos crimes relacionados à discriminação racial.
Do mesmo modo que não prestou queixa às autoridades, a maior parte dos discriminados não expôs o preconceito de que foi vítima nas redes sociais — 88% preferiram não recorrer à internet nesses casos; um porcentual, de resto, surpreendente, considerando-se a avassaladora presença da web, e particularmente das redes sociais, na vida contemporânea. A pista para compreender isso está neste dado: 35% dos participantes do levantamento acreditam ter havido contribuição da internet, e especialmente das redes sociais, para o aumento da discriminação racial no Brasil. Em outras palavras, eles a encaram como inimiga, e não como aliada.
Outro resultado da pesquisa que chama atenção é o que diz respeito à política de cotas no ensino: 54% se pronunciaram contrários a ela, sendo 58% brancos, 40% negros e 53% pardos. “Acho que uma das razões para a resistência às cotas é a percepção, tanto por brancos quanto por negros, de que não faz muito sentido combater racismo justamente com uma diferenciação baseada em raça”, avalia o historiador Manolo Florentino, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Muita gente também se deu conta, tantos anos depois da implantação das cotas, de que elas são o sonho de qualquer político: promover a inclusão social mediante canetadas, sem a preocupação de oferecer educação pública de qualidade no 1º e no 2º graus”, critica. Não se pode esquecer, evidentemente, que as cotas nada fazem por quem estanca nas primeiras fases da trajetória acadêmica. Todavia, deve-se reconhecer que, apesar de suas limitações, a iniciativa apresenta um balanço mais positivo do que se poderia imaginar — até porque não se confirmou nenhuma das previsões catastróficas que cercaram sua adoção, como o acirramento dos conflitos de natureza racista. Em alguma medida, talvez a rejeição às cotas por parte dos afrodescendentes — inclusive à ideia de expandi-las para áreas como serviço público ou direção de grandes empresas — esteja relacionada a uma visão de que elas arranhariam o orgulho dos próprios negros e pardos, ao, supostamente, desprezar suas capacidades intelectuais.
A verdade é que a superação do problema da discriminação racial no Brasil, como evidencia a reportagem desta edição, passa pela ampliação e pelo aperfeiçoamento de políticas afirmativas, a fim de que elas possam seguir corrigindo as consequências do largo, cruel e vergonhoso período de oportunidades sequestradas aos afrodescendentes. Isso até o dia em que um negro ou pardo não precisar mais mostrar documentos a um preconceituoso manobrista branco para provar que é o dono, e não o motorista, de um sedã prata, top de linha de sua categoria, na entrada do estacionamento de um prédio elegante, fincado em uma região nobre da maior cidade do país.
Colaboraram Isabela Izidro e Luisa Bustamante
Publicado em VEJA de 22 de novembro de 2017, edição nº 2557


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO