O futuro chegou
O responsável pelo teste que avalia o ensino no mundo volta a se debruçar sobre a situação do Brasil e alerta: as escolas precisam entrar logo no século XXI

Se um país quer saber como anda seu ensino em comparação com o dos outros, precisa consultar o Pisa, exame internacional aplicado desde 2000 pela OCDE, organização que reúne as nações mais desenvolvidas. Ele testa jovens de 15 anos em linguagem, matemática e ciências. Há quase duas décadas quem está no comando da prova que chacoalha o universo da educação é o físico alemão Andreas Schleicher, 54 anos, dono de rara perspectiva global sobre a sala de aula — inclusive no Brasil, país que ele perdeu a conta de quantas vezes visitou. Na edição de VEJA de 6 de agosto de 2008, as Páginas Amarelas traziam sua análise sobre os estudantes brasileiros, situados na turma de pior desempenho no Pisa (ainda estão nela). Na época, Schleicher chamava atenção para o pendor local para a decoreba, o mito de que um caminhão de dinheiro salva o ensino e a falta de atratividade da carreira de professor. “São assuntos que continuam candentes”, diz ele nesta entrevista, concedida por telefone de Paris, onde reside.
Há uma década, o senhor disse a VEJA que os brasileiros eram ótimos de decoreba, porém penavam para entender como as disciplinas se aplicam ao mundo real. Isso mudou? A cultura da memorização ainda é uma marca dos alunos brasileiros, assim como lhes falta desenvolver a capacidade de abstração, de conectar conceitos e compreender como eles ajudam a elucidar problemas concretos. Isso era visível nas provas do Pisa de dez anos atrás e continua assim. Há um longo caminho a ser percorrido até que o país alcance a excelência, o que não é nada fácil. Mas vejo alguns sinais promissores.
Quais sinais são esses? A única maneira de a educação de um país não ficar dependente do contexto social é fincando pilares que garantam a qualidade por meio de instituições confiáveis e medidas lúcidas, capazes de sobreviver às tempestades. É nesse sentido que observo avanço no Brasil. Um exemplo é a nova Base Nacional Comum Curricular, sinalizador objetivo do que se pretende alcançar nas escolas públicas e particulares. Com a Base, os professores sabem claramente as metas acadêmicas a atingir, o aluno entende o que é importante e os pais têm uma bússola para se nortear em meio à vida escolar dos filhos.
Como conhecedor de tantos currículos mundo afora, que recomendações o senhor daria ao Brasil para que o país tropece menos na dura etapa de implantação da nova Base? As expectativas para a sala de aula devem manter-se sempre elevadas, de modo que o ensino deixe de vez a superfície e mire o que interessa. Em todos os países de alta performance no Pisa, o aluno não aprende um monte de fatos científicos; é incentivado a pensar como cientista. E, no lugar de guardar nomes e datas históricas, o estímulo é para que desenvolva olho de historiador. Outro ponto é não ensinar só do jeito tradicional, já conhecido. O desafio de hoje é romper com a velha fórmula e pôr em prática métodos mais atraentes e eficazes.
“Em países de alto desempenho, o aluno não aprende um monte de fatos científicos, mas a pensar como cientista. Em vez de guardar nomes e datas, ele desenvolve olho de historiador”
Há muitos modismos por aí na educação. Em quais novidades o senhor confia? Se um país quer ter uma boa escola, não pode fechar-se nos muros acadêmicos; deve observar sob que lógica o mundo lá fora está girando. E, certamente, ele não funciona mais do modo antigo, organizado por disciplinas com pouca conexão umas com as outras. As grandes inovações da atualidade são fruto de uma combinação de visões — científica, matemática, filosófica. Se a escola quiser fazer-se útil, precisará ser multidisciplinar. Isso não é sinônimo de derrubar as fronteiras entre as matérias e deixar de ensinar os conceitos básicos. Significa apenas promover uma junção de saberes para resolver as questões apresentadas em sala, um aprendizado essencial para toda a vida. Países na vanguarda, como a Finlândia, já funcionam dessa maneira.
Por que as escolas custam tanto a mudar? Porque é mais fácil e cômodo seguir no rumo conhecido. A multidisciplinaridade, por exemplo, exige uma profunda mudança de ritos e demanda mais dos professores, que precisam planejar juntos, cada qual com sua ótica, para fornecer um aprendizado mais abrangente. Mudar também envolve, por parte dos educadores, ler, estudar e aplicar a novidade. A neurociência já reuniu informações valiosas sobre como crianças e jovens aprendem, mas essas descobertas ficam, na maioria das vezes, no plano teórico.
O que a neurociência esclarece sobre o aprendizado? A janela de atenção de uma criança em uma clássica aula expositiva não dura mais do que uns vinte minutos. No entanto, normalmente, as aulas à base de lousa e giz têm uma hora. Os educadores precisam entender que os alunos, sobretudo os nativos digitais, não conseguem ficar passivamente em frente ao professor, ouvindo, ouvindo, muitas vezes sem sequer entender a relação daquilo que ele fala com a realidade. O estudante deve ser cada vez mais instado a participar, debater, fazer experimentos, pôr a mão na massa. As pesquisas também enfatizam que cada um aprende no seu ritmo, à sua maneira. Quanto mais individualizado for o aprendizado, melhor.
Considerando a realidade brasileira, como contemplar aluno por aluno em salas lotadas, muitas vezes sob o comando de professores sem preparo? É evidente que a educação brasileira se ressente de o país não ter estratégias para atrair os melhores alunos para a carreira de professor. O salário conta, é claro; só que despertar o interesse de gente talentosa para a docência vai muito além disso. Na China, o bom mestre é desafiado intelectualmente, vira mentor de colegas menos experientes, assume aulas em lugares mais pobres e complexos, tem suas lições postas em plataformas para inspirar os outros — ou seja, é testado em seu limite, valorizado, sobe degraus e, sim, ganha mais por produzir mais. É assim que os chineses contam com uma turma de alto nível para ensinar.
Escolas no mundo todo começam a usar a tecnologia para individualizar o ensino, por meio de programas de computador que vão aumentando o grau de dificuldade da lição conforme o desempenho de cada estudante. O senhor aprova esse recurso? Qualquer iniciativa que consiga dar ao aluno a possibilidade de aprender de verdade é bem-vinda. A tecnologia, nesse caso, pode ser útil ao tornar possível algo que soa inviável: oferecer tratamento individualizado a turmas numerosas. Ainda há, porém, muito que desenvolver nessa área, assim como no campo dos games pedagógicos, em voga hoje em dia. A maioria é bastante superficial.
Há evidências sólidas de que a tecnologia pode mudar a sala de aula para melhor? O que ainda se vê no mundo todo são mais exemplos negativos do que positivos no uso da tecnologia nas escolas. Isso porque o computador é uma ferramenta do século XXI, mas está a serviço de pedagogias do século XIX. Sozinho, não resolve nada. Às vezes, até atrapalha, ao distrair os alunos e tirar o foco do que importa. Mas é claro que a tecnologia pode ajudar, ampliando de diversas maneiras as chances de um bom professor dar uma boa aula. Agora, se o mestre não for bom, enfatizo, não irá a lugar nenhum.
Habilidades socioemocionais, como criatividade, resistência a adversidades e colaboração, entraram no currículo escolar. Como saber se as crianças estão realmente aprendendo? Ter um termômetro para fazer essa medição é ainda um grande desafio. No último Pisa, conseguimos testar nos estudantes a habilidade de colaborar uns com os outros. Cada um ficava em frente a um computador, executando etapas de um projeto que envolvia a todos, trabalhando em uma simulação de rede. Eles tinham de encontrar uma estratégia comum para resolver um problema. Ninguém podia chegar à solução sozinho. Os brasileiros se saíram melhor nas tarefas individuais do que no teste de trabalho em equipe.
O senhor recebe queixas de países que vão mal no Pisa? Recebo. O Pisa virou uma vitrine — boa ou ruim — para os governantes. Quem vai mal fica desacreditando o resultado, querendo evidências de que está correto. Certa vez, autoridades americanas pediram até que eu renunciasse ao cargo.
“O que ainda se vê são mais exemplos negativos do que positivos no uso da tecnologia em sala de aula. Sozinho, o computador não resolve nada, às vezes até atrapalha”

Países asiáticos têm emplacado as primeiras posições no ranking. O que eles podem ensinar aos demais? Primeiro, conseguiram botar de pé algumas das melhores escolas de formação de professores do planeta, mantendo profissionais talentosos na sala de aula. Nesses países, a missão do professor não é só dar aula, mas também estudar e pesquisar boas práticas. As descobertas pedagógicas não ficam limitadas à academia; vão direto para a escola, em um processo de depuração constante. A educação naquela parte do mundo não é projeto de um professor ou de uma escola. Ela envolve alunos, pais, governantes. Além de tudo, existe ali uma forte cultura do esforço, fator considerado pelos estudantes determinante para o sucesso, segundo as pesquisas. Para os alunos brasileiros, o mais importante é o talento.
Dinheiro é decisivo para um bom resultado na educação? Dinheiro explica cerca de 20% do resultado. O resto se deve à boa aplicação das verbas. O Brasil destina quatro vezes mais recursos ao ensino superior do que aos primeiros anos de escola, o que é uma distorção. Se um país quer ter uma educação de alto nível, precisa começar a investir desde cedo na escola. Só assim estará preparando as novas gerações para os crescentes desafios do século XXI.
Publicado em VEJA de 29 de agosto de 2018, edição nº 2597

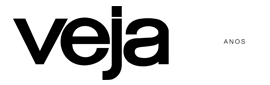
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO
















