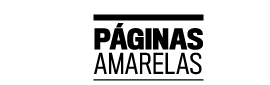Civilização em risco
O cientista político Yascha Mounk diz que a ligação histórica entre liberdade individual e instituições democráticas está se esgarçando

Com seu inglês carregado de sotaque, o cientista político Yascha Mounk roda o mundo imbuído de uma causa: salvar a democracia liberal da ameaça do novo populismo. Nascido na Alemanha, filho de mãe judia polonesa, o intelectual, de 36 anos, aprendeu em casa sobre as tragédias do nacionalismo e do totalitarismo do século XX. Em sua carreira acadêmica nos Estados Unidos — doutorou-se na Harvard e é professor da Universidade Johns Hopkins —, ele se devota a entender e combater uma forma completamente nova de populismo. Em O Povo contra a Democracia, lançado no Brasil pela Companhia das Letras, Mounk apresenta a perturbadora tese de que o casamento entre democracia e liberalismo, que trouxe estabilidade e progresso ao Ocidente, está sob risco — e também a paz e a liberdade. Mounk, que virá ao Brasil em 24 de abril, expõe aqui suas ideias.
Muito se fala dos riscos da ascensão do populismo para a democracia. Ela está mesmo em perigo? Dois fatores levam o mundo a subestimar as investidas dos populistas contra a democracia. O primeiro é que as pessoas ainda conservam a ilusão de que o regime democrático é uma conquista inexorável da civilização. O segundo é que os países — e a história da América Latina revela-se pródiga nesse sentido — se acostumaram a lutar contra inimigos que anunciavam explicitamente seu desejo de destruir a democracia, como comunistas e fascistas. Mas as democracias agora enfrentam ameaças muito mais sutis. O dado que torna complexo lidar com o fenômeno é que as pulsões antidemocráticas vêm do seio da sociedade e de líderes que se dizem os únicos tradutores da vontade popular, em contraposição ao sistema político instituído.
Seu inventário vai do americano Donald Trump ao húngaro Viktor Orbán, passando pelo brasileiro Jair Bolsonaro. O que há em comum entre os novos populistas? Os populistas sabem dar voz às frustrações do cidadão médio com uma linguagem simples e emocional. Eles sabem, sobretudo, vender-se como outsiders que se opõem radicalmente ao sistema político vigente e alardeiam sua pureza em relação aos demais políticos. Quando os políticos tradicionais já não conseguem acenar com melhorias expressivas na vida das pessoas, o populista se coloca como a única alternativa capaz de derrubar o status quo e encarnar uma ação de mudança positiva, a partir da destruição da velha política.
Seu livro argumenta que a ascensão do populismo passou despercebida da maioria dos analistas do século XXI porque eles imaginavam que democracia e liberalismo seriam conceitos inseparáveis. Por que a distinção é importante? Para entender isso concretamente, é preciso distinguir a contribuição de cada uma dessas facetas da chamada democracia liberal. Uma qualidade fundamental desse arranjo é garantir que todo indivíduo tenha liberdade de decidir o que quer ou não quer falar, de escolher qual deus cultuar e de fazer o que bem entende na vida privada. E é a tradição do liberalismo político, que remete à Inglaterra da Revolução Gloriosa e ao modelo engendrado pelos fundadores da democracia americana, que nos dá garantias contra os abusos do Estado, inclusive dos governantes eleitos, e protege as minorias impopulares.
“A promessa de democracia multiétnica é a única alternativa realista à tirania e à guerra civil. Mas o discurso de populistas como Trump e Bolsonaro alimenta a besta do nacionalismo”
E o outro elemento da equação, a democracia em si? O voto é o que garante que tenhamos controle sobre nosso destino, em vez de deixar que algum ditador tome decisões por nós. Por muito tempo, democracia e liberalismo se harmonizaram no Ocidente, dando-nos a sensação de que seriam um só ente imutável. Mas o equilíbrio foi rompido quando os eleitores começaram a abraçar populistas que prometem resolver os problemas minando as salvaguardas institucionais e as proteções às minorias indesejadas. Isso nos coloca diante de um dilema: temos a opção de conter os instintos destrutivos das maiorias que se manifestam através do voto, por meio dos usuais contrapesos institucionais — ou suprimir os direitos de alguns para que essa mesma maioria imponha seu modo de pensar a todos.
O nacionalismo, que historicamente levou a impasses dessa natureza, voltou à pauta com a ascensão de líderes como Trump. Como lidar com o fenômeno? Como um europeu cuja família teve de fugir de seu país por causa da II Guerra, sei dos perigos do nacionalismo do século XX. É compreensível que várias gerações tenham preferido manter essa face da história enterrada. Mas não julgo realista ignorar a força do novo nacionalismo. Quando submetidas a certas pressões da sobrevivência, as comunidades humanas têm a tendência instintiva de reagir com força bruta — e, historicamente, o nacionalismo tem sido uma válvula de escape. O jeito certo de lidar com o nacionalismo é vê-lo como um animal semidomesticado que retornará ao estado selvagem se não o canalizarmos. Por que não usar os sentimentos nacionalistas para compor uma sociedade em que pessoas de diferentes fés e cores de pele possam conviver em paz, como sempre ocorreu no Brasil? A promessa da democracia multiétnica, na qual pessoas de todos os matizes sejam de fato iguais, é a única alternativa realista à tirania e à guerra civil. Mas, em vez disso, o discurso de populistas como Trump e Bolsonaro alimenta a besta do nacionalismo.
Um traço em comum entre Trump e Bolsonaro é culpar o que chamam de “globalismo” pelos males de suas nações. Por que o argumento se revela tão atraente? O ressentimento contra qualquer tipo de superioridade social, econômica ou intelectual é que impulsiona o populismo, e é disso que esses políticos extraem seu veneno contra a globalização. A ideia de que alguém de fora está drenando recursos e minando a cultura de seu país é poderosa. Daí, no entanto, a negar que a globalização traga certos problemas reais só estimula esse discurso. Abraçar o fim do Estado-nação em favor de uma ordem global, como querem certos filósofos e economistas, é uma abordagem errada. Para que a globalização continue a ampliar seu potencial emancipador, é preciso um ponto de equilíbrio. Os países têm de ter o controle de seu destino. Sem aceitarmos isso, só daremos combustível a políticos como Trump.
Por que a chamada correção política também é visada pelos populistas? Eis uma área em que, para recolocar o debate num eixo civilizado, será necessário superar as análises muito polarizadas, na linha do “é tudo ou nada”. Não podemos deixar de denunciar o fato de que, do Brasil à Austrália, a bandeira da luta contra a correção política nutre um discurso francamente racista, sexista e homofóbico. Ao mesmo tempo, contudo, muitas pessoas sentem sua liberdade de expressão cerceada: qualquer deslize de linguagem pode ferir suscetibilidades e sujeitá-las à execração pública, mesmo quando não há má intenção. Expande-se cada vez mais o rol de condutas e palavras tidas como inaceitáveis. O resultado do excesso é a reação feroz contra a correção política. O modo certo de combater a reação não é deixar de denunciar seu vizinho racista ou aceitar como normais os insultos de Trump. É combater o preconceito sem posar de guardião da moral absoluta — o que, de novo, só alimenta a ideia populista de que a correção política é uma arma da elite contra o cidadão comum.
Por decorrência, deve-se inferir que as chamadas políticas identitárias são equivocadas? Não há dúvida de que muitos grupos humanos sofrem pesadamente com a discriminação, e deve-se lutar contra tal injustiça. Mas há que enfatizar, sempre, que se está fazendo isso para promover a inclusão social de mais pessoas, não para separá-las em categorias que supostamente competirão com o resto da sociedade. Nisso, o velho ideal americano de que todos os homens são iguais traz um ensinamento. Devemos lutar pelos negros não porque eles são negros, mas por serem cidadãos como nós e merecerem seu lugar ao sol. Isso também se aplica ao Brasil, onde tantos indivíduos são desprovidos da cidadania plena por serem negros, pobres, mulheres ou gays. Trata-se de uma equiparação, não uma luta por privilégios.
“A corrupção aumentou muito em todo lugar onde populistas ascenderam ao poder. Na Hungria, um amigo do premiê Orbán tornou-se bilionário com a ajuda do governo”
Malhar os tuítes indecorosos de Trump virou esporte da imprensa americana, e Bolsonaro repete seus passos com manifestações consideradas desastrosas, como um vídeo obsceno postado no Carnaval. Esses lances minam ou melhoram a credibilidade? Nisso, há mais estratégia do que se pensa. Um dos objetivos dessas provocações é condenar não o ato em si, mas todo um grupo ou vertente política. Parece-me esse o caso do vídeo de Bolsonaro. Os populistas apanham da imprensa e da opinião pública de modo calculado: se por um lado muitos gastarão energia para criticá-los, parte considerável do público vai gostar dessa postura indomável. “Se os poderosos da imprensa e da política estão falando mal, é porque meu líder os incomoda”, pensam essas pessoas.
A bandeira do combate à corrupção foi decisiva para a eleição de populistas. A promessa é para valer? Ao contrário: com o tempo, regimes populistas tendem a ampliar a corrupção. Dados que coletei sobre governos populistas desde 1990 provam que a corrupção cresceu muito em todo lugar onde eles ascenderam ao poder. À medida que esses líderes impõem sua agenda de enfraquecimento das instituições, os políticos que lhes dão suporte entram em conluio com os interesses econômicos, drenando a riqueza para seus bolsos. Na Hungria, um amigo do premiê Orbán tornou-se bilionário graças à ajuda do governo. Da Venezuela à Polônia, a corrupção se multiplica.
Afinal, qual é a culpa das redes sociais na ascensão do populismo? As novas mídias permitiram aos populistas explorar medos de diversas fatias da população de forma customizada, além de disseminar ideias como o muro de Trump. Mas, como vocês viram no Brasil com Bolsonaro, as redes sociais servem especialmente de palanque para o líder populista vender sua maior mercadoria: a miragem da comunicação direta com o povo, sem intermediação dos políticos ou da imprensa. De certa maneira, é preciso admitir, eles expuseram uma demanda justa por maior participação democrática. O problema é que, uma vez no poder, invariavelmente tentam minar a própria democracia.
O que fazer para salvar a democracia? É necessário que os políticos, inclusive as forças antagônicas, se unam para fazer frente aos avanços populistas contra as instituições. Mas o mais importante é reformar essas mesmas instituições, para que se reconectem e tragam melhorias para a população. É pôr a casa em ordem para que o sistema político não apenas perpetue o status quo, mas traga prosperidade.
Publicado em VEJA de 17 de abril de 2019, edição nº 2630

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br