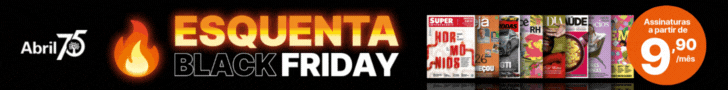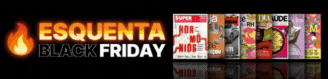Uma bomba na civilização: Hiroshima e Nagasaki, oitenta anos depois
As explosões que selaram o fim da Segunda Guerra são lembradas num momento em que a ameaça nuclear volta a assombrar o mundo

Lá se vão oitenta anos desde que o mundo assistiu atônito a um cogumelo se formar no horizonte da cidade de Hiroshima, no Japão, quando o dia já amanhecia. Era 6 de agosto de 1945 e aquele, o último ato da Segunda Guerra, o maior conflito armado da história, que custou 80 milhões de vidas. Três dias depois, a mesma apavorante cena se repetiria em Nagasaki, deixando um rastro de destruição e mais mortes. Os ataques ordenados pelos Estados Unidos, em demonstração de força sob o pretexto de fazer a nação oriental que integrava o Eixo se render, varreram 210 000 pessoas da face da Terra e seriam responsáveis por redesenhar a geopolítica global, mudando para sempre os rumos do planeta. Pela primeira vez, o homem havia criado uma tecnologia capaz de exterminar, com um apertar de botão, sua própria espécie — ideia que a humanidade está longe de abandonar.
Os bombardeios inauguraram a era da hegemonia militar americana e desencadearam uma corrida armamentista que rachou o mundo no meio e moldou as relações internacionais na segunda metade do século XX. O monopólio dos Estados Unidos sobre o uso do material radioativo com fins militares durou até agosto de 1949, ano em que a União Soviética detonou sua própria bomba atômica, dando a largada à Guerra Fria. Possuir um arsenal do tipo passou a ser condição para sentar-se à mesa das superpotências, e os paióis com as letais ogivas se espalharam por outros sete países: Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte (veja o quadro). “É uma filosofia militar que chamam de garantia de destruição mútua. Se você me atacar, tenha a certeza que será atacado e, possivelmente, ambos vamos desaparecer do mapa como consequência”, explica Aquilino Senra, professor do Departamento de Engenharia Nuclear da Politécnica da UFRJ.
A paz armada, baseada no propósito da sobrevivência, porém, tem se desdobrado em um equilíbrio frágil que, em alguns momentos, esteve próximo de ser rompido. A crise dos mísseis, em 1962, por pouco não levou a um embate direto entre americanos e soviéticos, após a descoberta de uma base russa de lançamento de foguetes em Cuba, a poucos quilômetros da Flórida. Em outro capítulo de elevada tensão, quando Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev mediam forças, os americanos chegaram a acumular 23 317 armas nucleares, enquanto os soviéticos tinham 40 159. Tamanha instabilidade fez a Associação dos Cientistas Atômicos criar o relógio do fim do mundo, que mede a ameaça de tudo vir a explodir pelos ares. Em 1947, foi programado para 23h40 (a hora simbólica do juízo final), mas teve os ponteiros adiantados como nunca antes no início de 2025, em sinal de alerta diante do acirramento das relações no xadrez mundial. E olha que foi antes do recente ataque de Israel e Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, para impedir que a nação persa desenvolvesse a própria bomba.
Oito décadas após as detonações, o drama vivenciado pela população das duas cidades japonesas ainda ecoa, como um apelo pela paz. Seis pessoas que sentiram o horror na pele falaram em 1946 à memorável reportagem de John Hersey, na revista The New Yorker, quando o mundo tomou contato pela primeira vez com as perversas marcas deixadas pelo ataque nuclear. Mais tarde, vieram à luz os depoimentos dos Hibakushas, como os 650 000 sobreviventes passaram a ser identificados. Um dos mais impressionantes é o de Tsutomu Yamaguchi, que havia viajado para Hiroshima a negócios e viu o primeiro petardo explodir. Com queimaduras pelo corpo, cegueira temporária e rompimento dos tímpanos, o executivo da Mitsubishi Heavy Industries, então com 29 anos, retornou à cidade natal, Nagasaki, chegando pouco antes de ser atingida. Yamaguchi tornou-se ferrenho defensor do desarmamento, agitando bandeira na ONU, até morrer em 2010, aos 93 anos. Sua história, aliás, está prestes a virar filme, sob direção de James Cameron.

Atualmente, dois acordos buscam frear a disseminação de tão letal tecnologia: o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), de 1968, e o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (TPAN), de 2017. Mas embora a existência das iniciativas seja um avanço inequívoco, as potências nucleares ainda não aderiram a nenhuma das duas. E a atual intensificação dos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia reforça a percepção de que o almejado abandono da energia atômica para fins de destruição em massa ainda está longe de ocorrer. “Há centenas de aplicações benéficas da tecnologia nuclear, especialmente na saúde, porém não na guerra”, lembra Senra. Que os homens recorram à razão e a apliquem apenas para fins pacíficos.
Publicado em VEJA de 25 de julho de 2025, edição nº 2954


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO