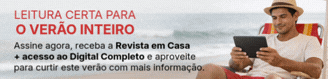Tamara Klink: “Que outras mulheres se lancem ao mar”
Influenciada pelos pais velejadores, ela fala sobre as emoções e os medos de cruzar sozinha o Atlântico

A minha relação com o mar começou desde cedo, ouvindo os relatos do meu pai sobre suas viagens no oceano. Ficava imaginando o cenário, a cor, o gosto da água, até que, aos 8 anos, estreei na navegação com minha família (as três irmãs, a mãe, Marina, e o pai, Amyr Klink) em uma expedição para a Antártica. Fiquei maravilhada com as paisagens e com a chance de visitar locais onde nós, humanos, somos reféns do vento, do frio e dos icebergs que despontam no caminho. Retornei à terra firme sabendo que meu destino era o mar — e sozinha. Queria ser a comandante. Aos 15 anos, pedi o barco dos meus pais emprestado e ouvi um sonoro não. Eles acreditavam que, para navegar sem ninguém ao lado, eu precisava ter meios materiais, físicos e emocionais. E assim comecei a devorar livros, documentários e a estudar para minha jornada-solo. Quase uma década depois, estou no meio dela, contando os dias para cruzar o Atlântico na companhia de mim mesma.
Não conseguiria se não tivesse me planejado tanto. Em 2018, eu me mudei para a França para cursar arquitetura naval na Escola Superior de Nantes, onde aprendi sobre construção e projetos de barcos e passava dias nos portos locais, fazendo amizade com velejadores que me ensinaram as maneiras mais diversas de navegar. Infiltrei-me em regatas, e um brasileiro que vive na Noruega acabou me emprestando dinheiro para comprar meu barco, um veleiro de cerca de 8 metros de comprimento que precisei reformar. Batizei-o de Sardinha: adoro esses pequenos peixes dos quais não se espera nada, mas que conseguem nadar quilômetros a fio sem parar. Da Noruega, fui à França a bordo dele. Meus pais revelaram confiança em mim, o que me deu forças para me lançar por um mês ao mar, sozinha como sempre quis.
A primeira viagem me trouxe grandes lições e me preparou para a travessia que encaro agora. A jornada, que deve durar três meses e terminar no Brasil, começou em 10 de agosto, quando deixei o Porto de Lorient, na costa francesa, e atraquei em Lisboa, onde estou fazendo uma pausa. Os primeiros dias foram bastante desafiadores, às voltas com problemas mecânicos e condições meteorológicas adversas. Logo no início, enfrentei uma calmaria que me obrigou a passar um bom tempo parada em pleno oceano, imersa em preocupações que vão se ampliando naquela imensidão. Quantos litros de água havia levado, eu me perguntava? Seria o suficiente para me manter viva? De repente, veio uma tempestade, com ondas enormes que engoliam o barco. Foram umas trinta horas assim. Não preguei os olhos. As peças do veleiro faziam barulhos alucinantes e tive muito medo de a embarcação ceder. O barco ficou com algumas avarias, que estou consertando para seguir viagem.
Dentro do Sardinha, carrego um estoque de refeições desidratadas. Ele é tão pequeno que não tem chuveiro e aproveito a chuva para tomar banho. Também não posso dormir por muito tempo: preciso monitorar o caminho e manter contato com os outros barcos. Minha próxima parada é a Ilha da Madeira, depois Cabo Verde, de onde navegarei sem escalas até o Recife. Tenho um telefone por satélite que às vezes uso, mas prefiro guardar para emergências. O isolamento é um dos meus maiores inimigos — é tortura passar dias sem ouvir uma voz humana. Em momentos difíceis, chego a pensar que estou enlouquecendo. Falo comigo mesma, com os animais que nadam ao meu redor e até com o barco. Faço diários de bordo, como sempre fiz quando criança, velejando com minha família. O medo me mantém alerta. A cada obstáculo que venço ganho segurança. Espero que minha expedição possa inspirar outras mulheres a comandar seus próprios veleiros e a completar suas travessias — sejam elas em alto-mar ou em terra firme.
Tamara Klink em depoimento dado a Julia Braun
Publicado em VEJA de 1 de setembro de 2021, edição nº 2753


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO