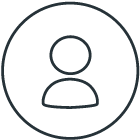Conheça o único chef brasileiro estrelado em Paris
Raphael Rego nem acreditou quando o celular tocou com a notícia de que havia entrado para o panteão dos grandes da gastronomia

Era janeiro de 2019, e o carioca Raphael Rego, 40 anos, sabia estar no meio de um daqueles finais de semana em que, na turma da alta gastronomia, todo chef fica conferindo para ver se o celular apita. A razão é o TELEFONEMA (com letras maiúsculas mesmo) do guia Michelin, publicação que escolhe quem entra e quem sai de uma constelação definidora de status no mundo das panelas de cobre.
Raphael achava que ainda não seria sua vez de ganhar uma estrela. Havia recém estabelecido o Oka, um restaurante de comida franco-brasileira, em endereço novo, com altos planos na cabeça. Mas sentia que não estava no ponto.
Aí o celular tocou. Não foi no sábado nem no domingo, quando quase todos os agraciados com estrelas já estavam avisados, mas na segunda, em cima da hora da entrega do prêmio. “Me disseram que tinha recebido uma estrela e pensei: é trote”, conta a VEJA. Não era, e daí ele saltou degraus no fechado círculo da boa mesa francesa, que o via como um forasteiro fora de lugar. “Vai jogar futebol”, chegou a ouvir.
TRÊS CLIENTES NUMA SEXTA
Em 2000, o jovem que tinha deixado Botafogo, na Zona Sul carioca, para estudar inglês na Austrália e engatou num curso de marketing precisava ganhar dinheiro para se bancar longe de casa e acabou arranjando emprego de lavador de pratos. Não imaginou que ali veria aflorar um interesse novo – o lugar era de alto nível, e ele quis aprender a cozinhar.
Quatro anos e muitas tarefas envolvidas na vida de um restaurante depois, não paravam de dizer: “Se ambiciona ser bom cozinheiro mesmo, tem que ir para a França.”
Ele foi. Espalhou o currículo em Paris e acabou surpreendido com uma proposta de trabalho, ainda na base da pirâmide gastronômica, no prestigiado L’Atelier de Joël Robuchon. Observava o venerado chef, dono de duas estrelinhas, sempre de roupa escura e semblante tímido, e ali absorveu a ideia de trabalhar em intensidade máxima. No Taillevent, outro da constelação, uma instituição francesa, aprendeu que cozinha não precisa ser lugar frio de gente taciturna – cada cozinheiro era chamado pelo nome, humanização básica à qual, na batalha ao fogão, nem todo mundo atenta. Raphael, sim.
Um dia, lá no ano de 2014, ele resolveu abrir o próprio restaurante e foi atrás de empréstimo no banco. Chegou na agência e explicou seu projeto ao gerente, no detalhe. O homem, do tipo pragmático, perguntou: “Então você é um chef que veio do Brasil, com passagem por ótimas casas e agora quer trazer um conceito novo para Paris, de comida franco-brasileira?” Raphael assentiu. Era isso mesmo. Bico daqui, bico dali, e o empréstimo foi prontamente negado.
Ele seguiu em frente, percorrendo um périplo usual: tirou dinheiro do bolso e montou um bistrô em Montmartre, que passou quatro meses às moscas. Numa sexta-feira, contava três clientes. Chegava em casa abalado. Precisava parar, respirar, chorar, até abrir a porta. “As pessoas viam que era restaurante de comida brasileira e queriam picanha e feijão preto com arroz, enquanto eu oferecia espuma de caldinho de feijão e moqueca doce na sobremesa, juntando Brasil com França”, lembra. “Era como se comida brasileira tivesse que ser boa e barata, e não pudesse ser sofisticada.”
“O BRASIL DO RAPHAEL”
Os ventos começaram a mudar quando Giles Pudlowski, o severo e respeitado crítico, entrou no bistrô, provou de tudo, gostou e escreveu um elogioso texto intitulado: “O Brasil de Raphael”. A casa encheu, ele mudou-se para espaço maior, no Quartier Latin, e por fim fincou endereço numa área de 350 metros quadrados, onde, além do Oka, com menus a 195 euros, instalou o Fogo, mais despretensioso (uns 65 euros per capita), além de uma boulangerie. Não fica longe do Arco do Triunfo.
Chefs de toda a cidade estão sempre por lá e já não torcem o nariz para pratos como vieira grelhada com molho de moqueca ou o açucarado saint honoré com castanha do Brasil.
Antes, para conseguir seus insumos, Raphael ia a lojas de produtos africanos ou asiáticos, para ver se achava ingredientes brasileiros no meio das prateleiras. Foi ascendendo e conseguiu se conectar com bons produtores pela França, que já abasteciam outros chefs. O último avanço foi ter a própria horta, a menos de uma hora de carro de Paris. Quiabo e chuchu já estão para ser colhidos.
Ele acha que assim, com vegetais e temperos brasileiros à mão dos franceses, a culinária nacional pode se disseminar. “Aconteceu exatamente desse modo com a comida japonesa, tão boa na França”, fala ele, com sotaque ligeiramente francês, depois dessas quase duas décadas, mas sem se desgarrar das raízes. “Antes, achava que não podia botar música no salão. Hoje, eu boto e também dispenso a equipe de usar gravata”, conta. “Achei o meu jeito de homenagear a alta gastronomia francesa sem esquecer de onde eu vim”, resume.
Se sonha com uma segunda estrela? Desde que não o aprisione numa fórmula em que não caiba brincar com seus mil folhas de beterraba e açaí, sim, por que não?




 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO