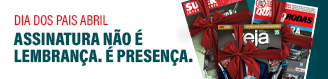O caso André do Rap: como as prisões viraram fábricas de criminosos
Os erros em torno da libertação do traficante jogam luz sobre a transformação, pelo PCC, de uma das maiores populações carcerárias do planeta em mão-de-obra

Aconteceu quase de tudo na lamentável comédia de erros que culminou na saída pela porta da frente da cadeia de um dos chefões do Primeiro Comando da Capital (PCC), a facção criminosa mais poderosa do país. Entre uma série de falhas e brechas da Justiça na análise do caso, a cereja do bolo no episódio ficou por conta de Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, que assinou a liminar de soltura para marcar uma inoportuna posição legalista, levando a lei ao pé da letra — nem que para isso tivesse de fazer vistas grossas ao alto nível de periculosidade do criminoso em questão, André Oliveira Macedo, responsável nos últimos anos pelo braço internacional de comércio de drogas do PCC. Resultado: André do Rap, como o traficante é mais conhecido, deixou calmamente no sábado 10 o presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, entrou em um BMW e, até a tarde da última quinta, 15, nunca mais foi visto. Ele havia sido capturado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em setembro de 2019, após um cerco que envolveu trinta policiais. Agora, cerca de 600 deles se encontram em seu encalço.
A “fuga legal” provocou justa indignação em todas as esferas da sociedade, mas não houve ainda uma discussão aprofundada sobre outra gigantesca mazela nacional revelada pelo mesmo caso: a de como as cadeias brasileiras produzem hoje em ritmo acelerado soldados para as facções, em especial, o PCC, a exemplo do que ocorreu com André do Rap. Sem nenhuma passagem pela polícia, em 1996, aos 19 anos, ele acabou sendo preso em flagrante em casa, com trinta papelotes de cocaína. Um menor de idade revelou que o ajudava a vender a droga, o que rendeu a André a agravante de corrupção de menores. Ele cumpriu a primeira parte da pena na Cadeia Pública do Guarujá, no Litoral Sul paulista. Logo em seguida foi transferido para a Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, presídio desativado em 2002. Dono de bom comportamento e considerado inteligente pelos colegas de cadeia, principalmente pela capacidade de fazer e decorar rimas de rap, ele tinha o perfil que se encaixava perfeitamente em uma vaga no PCC. Seu batismo na facção ocorreu no Pavilhão 9 durante a primeira de suas quatro prisões.

No ano passado, ao ser detido em uma mansão em Angra dos Reis, agora aos 42 anos, André do Rap havia se tornado um dos maiores exportadores de cocaína do país. Segundo as investigações, ele comandava o embarque da droga para o sul da Europa, principalmente a Itália, via Porto de Santos. Durante a prisão, a polícia apreendeu um barco de 60 pés, avaliado em mais de 6 milhões de reais, além de um helicóptero, com o qual costumava se deslocar nas viagens entre a Baixada Santista e a casa de Angra, seu destino predileto para curtir os fins de semana. Antes da captura, tinha vindo de uma temporada entre Holanda e Espanha. Na época, a vida de luxo que levava em Angra dos Reis e no Guarujá acabou deixando pistas à polícia. Foi pego em uma mansão que alugava por 20 000 reais mensais na cidade do Litoral Sul do Rio.
Para justificar tanto dinheiro, André do Rap se apresentava como um empresário bem-sucedido de esportistas e bandas musicais. Segundo a polícia, ele lavava o dinheiro das drogas com ajuda de uma cadeia de negócios que incluía restaurantes, lojas de veículos e roupas, bancas de camelódromos, salões de beleza, açougues e ONGs de projetos culturais. Entre o vai e vem pelo sistema prisional, ele somou quase uma década de vida dentro de cadeias paulistas. Condenado pelos crimes duas vezes em segunda instância, aguardava o chamado trânsito em julgado, que vai confirmar as sentenças definitivas — até que apareceu no seu caminho a caneta salvadora do ministro do STF.

Com um time de advogados credenciados, que incluía até uma sócia de um ex-assessor de Marco Aurélio Mello, o traficante entrou com nove habeas-corpus para conseguir a soltura — um deles, por exemplo, fazia referência ao risco de contrair Covid-19. Mas a argumentação que colou junto ao ministro da Suprema Corte foi a do artigo do pacote anticrime, que transforma em constrangimento ilegal a prisão preventiva que não é reanalisada em noventa dias. Com base nesse trecho, Marco Aurélio mandou soltar mais de setenta presos nos últimos dias. Antes mesmo de o pacote anticrime entrar em vigor, o mesmo ministro já havia determinado a liberdade de Moacir Levi Correa, o Bi da Baixada, companheiro de André do Rap no tráfico em Santos, em outubro de 2019. Apesar de Correa ter sido preso em flagrante por tentativa de homicídio, o argumento era semelhante ao utilizado por André do Rap. “Privar de liberdade por tempo desproporcional a pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade”, escreveu Marco Aurélio. Alvo de outros mandados de prisão preventiva, Correa sumiu do mapa, assim como André do Rap. Felizmente, a interpretação literal de Marco Aurélio Mello para a questão das preventivas envolvendo bandidos perigosos não encontrou eco no STF. Na última quinta, 15, o plenário manteve a prisão de André do Rap. Tarde demais, é claro. Suspeita-se que ele tenha fugido para o Paraguai, onde o PCC tem uma base forte de operações.
Se o paradeiro evidente de André do Rap deveria ser a cadeia hoje, lá atrás, quando cometeu o primeiro delito, a solução poderia ter sido outra. Existe uma questão de fundo no país sobre segurança pública que é pouco debatida, apesar de sua importância. A exemplo do que aconteceu com esse traficante, a superpopulação carcerária brasileira, terceira maior do planeta, com mais de 750 000 detentos vivendo em condições medievais, tornou-se um terreno fértil à cooptação de soldados para o crime organizado. Interromper esse processo é fundamental para combater essas facções. Em 2019, ano mais recente do levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o país registrou 350 pessoas encarceradas para cada grupo de 100 000 habitantes — mais que o triplo do que havia em 1997. E os índices de violência não melhoraram por causa disso. “A superlotação provoca as piores consequências para o preso e praticamente inviabiliza sua recuperação e reinserção à sociedade”, afirma José Vicente da Silva, coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário nacional de segurança.

O resultado é que, quanto mais a população carcerária cresce, maior é a oferta de mão de obra para as facções criminosas. Elas se aproveitam da desorganização do Estado dentro dos presídios para oferecer segurança e algum conforto aos detentos. Quando eles saem, estão em dívida com essas organizações, recebem um “emprego” e nunca mais deixam esse círculo vicioso. Os mais jovens que cometeram delitos leves ou moderados, e que têm chance de voltar à rua em pouco tempo, ganham preferência no recrutamento feito da cadeia. “O Estado não fornece condições mínimas de sobrevivência ao detento, a começar pelo básico, ou seja, um espaço onde o preso possa dormir”, afirma Ludmila Ribeiro, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professora visitante da Escola de Justiça Criminal da Universidade Estadual do Texas. Pelo último censo carcerário, as unidades prisionais brasileiras dispunham de 442 000 vagas para 755 000 presos, um excesso de 313 000 pessoas. O mesmo levantamento mostra que o Amazonas é o pior estado em termos de superlotação, com quase cinco vezes mais encarcerados do que vagas disponíveis (menos de 3 200 vagas para quase 10 400 detentos).
Se os presídios viraram escolas avançadas do crime organizado, não param de chegar calouros para o recrutamento dessas facções criminosas. E o comércio de drogas é uma das principais portas de entrada para o sistema. Não é por acaso que o crescimento da população carcerária se acelera a partir dos anos 90, junto com a expansão do tráfico e o fortalecimento das facções. Atualmente, 20% dos detentos brasileiros foram parar atrás das grades por tráfico. A espiral de prisões é resultado da política de combate às drogas, que aprisiona milhares de soldados de baixo escalão ou “aviõezinhos”. O problema é que assim que vão para cadeia, esses funcionários são substituídos imediatamente pelas facções. Elas encontram ampla oferta de mão de obra entre garotos desempregados nas periferias e favelas das grandes cidades.

A verdade é que, no Brasil, muita gente vai para a cadeia por tráfico de drogas sem que fosse necessário, de fato, impor uma punição em regime fechado. Ao analisar o perfil dos detentos que ingressaram no sistema prisional no ano de 2019, último dado disponível pelo Ministério da Justiça, constata-se que 169 000 presos estavam condenados a penas menores de oito anos, que poderiam ser cumpridas em liberdade, em regime aberto ou semiaberto. Uma nova lei de drogas foi criada e entrou em vigor em 2006 para diferenciar a punição e o tratamento de usuários de drogas e de traficantes. O princípio era tratar dependentes químicos como um problema social sem endurecer a persecução penal dos criminosos que vivem de negócios ilícitos. No entanto, sem a regulamentação pelo Congresso, os tribunais continuaram condenando pessoas pela posse de pequenas quantidades de narcóticos, lotando cadeias. “Portugal e Espanha possuem um limite em que a pessoa passa a ser considerada traficante de drogas. Como o Brasil não estabeleceu isso, é o Judiciário que determina”, critica Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública. “Esse sistema prisional é na verdade a central de formação e expansão do crime organizado. É o comando central que reúne todas as gangues e facções”, critica Jungmann.
A história de André do Rap se confunde com a do crescimento do PCC nos últimos anos. Os investigadores o apontam como um dos principais contatos da facção com a Ndrangheta, a máfia calabresa que rivaliza com a Cosa Nostra e é considerada uma das mais perigosas do mundo. Do nascimento ao processo de globalização, a escalada do PCC é impressionante. Ele nasceu em 1993 e, em pouco tempo, conseguiu cooptar para as suas fileiras um exército de assaltantes de banco, megatraficantes, convertendo-se numa verdadeira irmandade do crime. Hoje, a organização está presente em todos os estados brasileiros e outros dezesseis países. “É a facção que mais cresce no mundo”, afirma Marcio Sergio Christino, procurador do MP de São Paulo. Christino, aliás, foi o primeiro membro do MP a alertar sobre a existência do PCC e de seu crescente poderio dentro dos presídios paulistas no ano 2000.
Além de controlar a criminalidade na rua, o PCC organiza a vida dentro das cadeias. Ao entrar em uma unidade prisional, o detento tem de se virar não só para dormir, mas também para conseguir itens básicos como sabonete, escova de dentes, um par de chinelos e roupas íntimas. O Estado não fornece esse tipo de coisa. Outro fator que torna os presos ainda mais vulneráveis é a localização dos presídios em pontos distantes das capitais, o que obriga as famílias a gastar nos dias de visita com transporte um dinheiro que, geralmente, não têm. “No caso do PCC, os integrantes têm direito a vagas para familiares nos ônibus fretados”, afirma o promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público em Presidente Prudente. Em troca dos benefícios, quando sai da cadeia, o “faccionado” se compromete a cumprir todo tipo de missão determinada pelos superiores hierárquicos. As tarefas podem variar da participação em um assalto ao assassinato de um inimigo. Nas palavras do estatuto, quem adere à organização passa a “viver do lado certo da vida errada”.
O ingresso em uma facção acarreta também o pagamento de uma mensalidade, isto é, quando o criminoso estiver solto. No caso do PCC, em São Paulo, a taxa mais baixa chega a 500 reais. O dinheiro do “dízimo” é usado para prover desde os chinelos e produtos de higiene pessoal da turma da cadeia até o fretamento de ônibus que levam familiares de “irmãos” em dias de visita. Uma vez na organização, os afiliados também têm mais facilidade para se comunicar com o mundo exterior por meio dos celulares que entram ilegalmente nos presídios plantados pelo PCC. “É quase impossível se regenerar na prisão. Lá dentro, a gente só evolui como criminoso. É o dia todo falando dos crimes que cometeu e planejando outros que pretendemos realizar”, diz o gaúcho Marcelo Leandro Pereira de Souza, 44. Souza foi preso por roubo de um carro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, na década de 90. Em três meses de reclusão, conheceu integrantes de uma quadrilha de roubo a bancos, e sua fama de bom motorista lhe rendeu convite para participar de assaltos como piloto de fuga. Detido pela segunda vez, após um assalto com a nova turma, Souza cumpriu cinco anos e três meses de pena em regime fechado.
Combater hoje as facções não é apenas difícil pelo tamanho e poder que elas acumularam ao longo das décadas. O modelo de organização dos grupos também dificulta a batalha. Pode-se até trocar as lideranças ou isolá-las em presídios de segurança máxima, como ocorreu com o número 1 do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, mas a instituição continua de pé. Nos últimos tempos, graças a uma mudança importante na tática no enfrentamento dessas facções, a Polícia Federal começou a criar forças-tarefa em vários estados para asfixiar as fontes de financiamento da quadrilha, em vez de gastar tempo e energia prendendo pequenos traficantes. Apesar de algumas vitórias importantes, a batalha está longe de ser vencida, sobretudo quando as cadeias continuam retroalimentando essas gangues com novos membros. “O PCC está em um estágio pré-máfia, tamanho seu nível atual de sofisticação”, afirma o jurista Walter Maierovitch, ex-secretário nacional antidrogas.

Na esteira da repercussão do caso de André do Rap, voltou-se a discutir no país a necessidade da prisão em segunda instância. A medida é urgente para crimes graves, como demonstra o caso do traficante, que jamais teria sido libertado se estivesse valendo essa regra. Isoladamente, no entanto, não resolve a questão. São necessárias medidas que quebrem essa engrenagem de cooptação de mão de obra. Nos últimos anos, sugiram propostas para acabar com as “escolas do crime”, assim como os problemas carcerários. Mas nenhuma discussão foi para a frente. Algum avanço poderia ser conquistado apenas com a aplicação correta do que prevê a lei de execuções penais, como separar presos conforme a sua periculosidade ou gravidade do crime cometido. Como, no entanto, fazer celas especiais se nem há celas suficientes para todos? “O Brasil precisa refundar a sua segurança pública calcada em estudos científicos e não em ideologia barata. Onde o Estado não está presente, o crime está. E isso fortalece as facções como o PCC”, diz Rafael Alcadipani, professor da FGV-SP e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Além das medidas óbvias de reformar os presídios e oferecer emprego e estudo aos presos, há outras propostas em debate no meio jurídico como separar claramente o traficante do usuário de drogas e aumentar o leque de possibilidades de penas alternativas. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, cresceram as aplicações do chamado “sistema de condicional” (probation system), que dá a opção ao réu primário de trocar a prisão por trabalho comunitário e cursos de qualificação profissional. O Estado, então, acompanha o réu e, se ele descumpre algum ponto do acordo, simplesmente retorna à cadeia. Na Alemanha e no Reino Unido, cerca de 80% dos condenados ganham multas ou outras penalidades. No Brasil, a proporção é inversa: 20% recebem pena alternativa e os outros 80% perdem a liberdade. Enquanto o país não encarar seriamente esse problema, a nação viverá o paradoxo exemplificado pela trajetória de André do Rap: ele foi solto quando deveria estar preso e, ainda réu primário e de baixa periculosidade, foi preso quando deveria ter sido solto. É claro que um crime como tráfico de drogas gera entre a sociedade um clamor por justiça. “Mas o risco de ignorar o contexto sem buscar soluções alternativas é o de jogar milhares de jovens na criminalidade pesada, nesse inferno que é o sistema prisional brasileiro”, afirma Raul Jungmann. Como mostra a história de André do Rap, o resultado é que ele acabou se graduando na universidade do crime.
Com reportagem de Roberta Paduan e Mariana Zylberkan
Publicado em VEJA de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Milei versus papa: Igreja Católica responde aos ‘insultos’ do candidato
Milei versus papa: Igreja Católica responde aos ‘insultos’ do candidato Plano de contingência contra tarifaço de Trump deve ser apresentado a Lula nesta semana
Plano de contingência contra tarifaço de Trump deve ser apresentado a Lula nesta semana Papa Leão XIV se manifesta contra deslocamento forçado de palestinos em Gaza
Papa Leão XIV se manifesta contra deslocamento forçado de palestinos em Gaza PF não ve relevância em pen drive achado no banheiro de Jair Bolsonaro
PF não ve relevância em pen drive achado no banheiro de Jair Bolsonaro O fim de um ciclo para Giovanna Antonelli no mundo dos negócios
O fim de um ciclo para Giovanna Antonelli no mundo dos negócios